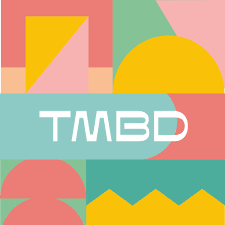“Eu e o meu marido, Manuel de Brito, fomos os fundadores da Galeria 111, que tem 47 anos e portanto começámos a expor em 1964. Íamos até Paris ao encontro dos artistas. O José Escada, o Eduardo Luís, o Gonçalo Duarte, o Júlio Pomar, a Lurdes de Castro, o António Dacosta e muitos mais. Portanto, ficamos amigos deles todos. Naquela altura não havia galerias, não havia museus, ou seja, não havia coisa nenhuma e nós dêmos inicio a esse trabalho que foi começar a expor esses artistas portugueses”. É a partir do testemunho de uma das fundadoras da galeria mais influente do nosso país, Maria Arlete Alves da Silva, que damos início a um périplo pela evolução de uma nova identidade artística em Portugal contada na primeira pessoa.
Como começou a aventura de ter uma galeria no final dos anos 60?
Maria Arlete Alves da Silva: Meu marido era um jovem livreiro. Havia um crítico que se chamava Rui Mário Gonçalves que dedicou toda a sua vida a arte. Era muito eléctrico e por isso, acabou conhecendo toda uma geração de artistas da altura. Ele organizava exposições na associação da faculdade de ciências, e ficou muito amigo do meu marido. Na livraria onde o Rui trabalhava, ao lado da universidade de ciências, havia uma tertúlia onde apareciam personalidades como o Almada Negreiros, o Luís Dourdil, o Abel Manta , o Carlos Botelho, só para citar alguns, toda aquela geração de artistas mais velhos reuniam-se ali para conversar. O sonho do meu marido foi sempre ter uma galeria, desde essa altura, embora não houvesse condições para isso. Quando a faculdade de letras e direito foram transferidas para o Campo Grande, o meu marido propôs ao dono da livraria que abrisse outra naquela zona para dar apoio literários aos jovens estudantes, aí sim ele já como sócio pretendia refazer a tertúlia que decorria no espaço anterior.
Em 1963, fui estudar para a faculdade de letras, mas como sempre foi uma rapariga independente comecei a trabalhar em part-time nessa livraria no Campo Grande. Nesse mesmo ano tem inicio uma história de amor muito grande, a nossa e decidimos embarcar nesta aventura que era a galeria e a colecção. Alugámos o espaço anexo, que era de uma sapataria que tinha falido, e nesse local fez-se uma pequena galeria e começou-se a expor artistas que eram completos desconhecidos. O primeiro foi o Joaquim Bravo, o segundo foi o Álvaro Lapa e o terceiro, o António Palolo, isto já em 1964.
É nessa fase que surge o nome de galeria 111?
MAAS: Não. Era ainda uma livraria chamada escolar editora, porque era a sucursal da sede e depois passou a ser a galeria da livraria. O Vespeira que era um artista fez um desenho com 111, era o número da porta, até o pôs numa serapilheira e passado pouco tempo toda a gente a conhecia por galeria 111. Eram tempos muito paupérrimos. Não se vendia nada, nem sequer havia aquela ideia de que alguma vez se ia investir em arte. O nosso país era muito pobre e com as visitas da PIDE que havia a toda a hora, muito dinheiro era perdido nas apreensões. Por exemplo, lembro-me de ter recebido cem livros da paz de Aristófanes, que estava a ser estudado na faculdade de letras e porque tinha na capa uma pomba foram apreendidos. Era uma imagem considerada subversiva e levaram todas as cópias.
Porque uma pomba era considerada subversiva?
MAAS: Por causa de Picasso e as suas pombas, simbolizavam a paz. Agora imagine o rombo, foram os 100 livros. Recebíamos também, reproduções provenientes da Holanda, algumas do quadro Guernica raramente essas impressões chegavam as nossas mãos, a PIDE apreendia tudo nos correios. Era um horror o tempo do Salazarismo.
Depois do 25 de Abril houve melhorias?
MAAS: Temos que retroceder um pouco no tempo, quando o Salazar caí da cadeira é que começa tudo a mudar, com o Marcelo Caetano houve um abrandamento, a PIDE continuava a marcar presença, mas não era tão feroz e aí curiosamente, houve uma grande abertura económica. Apareceu um homem, que para nós foi fundamental, que era o Jorge Brito. Um banqueiro apaixonado por arte, era até um coleccionar compulsivo. Tinha a mesma idade que o meu marido, o mesmo sobrenome e houve desde o principio uma grande ligação. Ele gostava de coleccionar sobretudo Vieira da Silva e nós corremos o mundo todo para comprar quadros só para ele. Eram quadros caros e nós a partir das comissões que ganhámos passamos a ajudar artistas que estavam a passar muito mal, eram tempos difíceis. Começámos por comprar-lhes as obras e dar-lhes uma mensalidade para terem uma vida mais estável. Nesta altura, abriu-se o nosso mundo. Nós de uma pequena galeria no Campo Grande passámos a ir a Nova York e a Londres e nós profissionalizamos de outra maneira. Aproveitando esse bum, nós do 111 passámos para o número 113 que era uma galeria maior e inaugurámos esse espaço exactamente no dia que Salazar morreu.
Foi então uma grande festa!
MAAS: Nesse dia estava tudo fechado, escolas, correios, tudo mesmo e as pessoas como sabiam que tínhamos um beberete fantástico, apareceram em massa e inaugurámos mesmo. Depois fomos denunciados a polícia. As forças policiais mandaram fechar a casa, porque alegavam que estávamos a celebrar a morte de Salazar e era verdade! (risos). Concluindo, fechámos as portas e com a luz apagada, continuou ali uma grande festa. Abreviando, voltámos a inaugurar oficialmente na semana seguinte e fizemos muitas boas exposições, essa mostra era da Vieira da Silva.
Houve sempre essa aposta propositada nos artistas portugueses?
MAAS: Havia. Nós gostávamos muito deles. Eram jovens, estavam exilados e nós procurávamos trazer os seus trabalhos para Portugal, para mostrar e expusemos todos. Por exemplo, o Jorge Martins, o Eduardo Luís e os outros todos que referi.
Então depois do 25 de Abril foi muito melhor?
MAAS: Não foi uma grande desgraça(risos). Até há bem pouco tempo eu dizia, está crise é má, mas o 25 de Abril de 1971 foi pior. Agora acho que afinal, se calhar estamos pior. Essa altura foi muito confusa, ao nível económico para todo o país, porque as pessoas ricas tiveram de fugir para o Brasil e para a Espanha. Os revolucionários ocuparam as quintas e as casas.
Eles chegaram a ir até a galeria?
MAAS: A livraria sim boicotearam aquele espaço. Foram tempos muito conturbados, os juros eram acima dos 20%, perdeu-se tudo na banca, recebemos quase um milhão de pessoas das ex-colónias, foram tempos muito maus. Tínhamos entretanto, inaugurado outra galeria no Porto, em 1971. Nesse período, não pudemos dar qualquer apoio aos artistas, não se vendia nada, nem de arte, nem de livros, nem coisa nenhuma. Foram anos muito penosos, foram cinco anos muito complicados. Depois como em tudo, há momentos de depressão e momentos de euforia, lá conseguimos manter-nos à tona.
Como vê a evolução da arte em Portugal? Afinal acompanhou tudo. O antes, o meio e o depois.
MAAS: Antes, as pessoas tinham muitas dificuldades. Artistas como a Lurdes Castro e outros da sua geração. Só mais tarde tiveram bolsas da Gulbenkian para sobreviverem lá fora. Era uma existência dura. Uns eram professores, outros trabalhavam em restaurantes. Eu lembro-me do Dacosta ter sido porteiro da noite de um hotel. Hoje em dia os jovens artistas tem tudo, bolsas para tudo, para estudarem em Nova York, ou onde desejarem. Se tiverem sorte e talento tem um manancial de oportunidades. Estou pessimista contudo, com a queda da bolsa nos mercados internacionais e a crise que se alastrou no nosso país com a falência do BPN. As pessoas ricas tiveram muitos prejuízos e perderam muito. A arte vai ser algo que irá passar para segundo plano. Claro que, peças muito boas serão sempre vendidas, mas há uma retracção do mercado.
Há diferença entre o que se faz cá e o estrangeiro?
MAAS: Há obras de grande qualidade. Não existe mais esse fosso que havia entre o que se fazia cá e o estrangeiro. Como da noite para o dia. As pessoas não tinham acesso as revistas, se imaginarmos que não havia televisão nos anos 60. Agora nada é escondido, o que se sai hoje torna-se de imediato universal. Um jovem não precisa sair de casa para aceder a um museu. Há outra mobilidade, os jovens viajam por todo o mundo e isso permite uma abertura muito grande. Se forem muito bons, o são aqui como em qualquer outro lado. Vivemos num mundo com restrições económicas. A minha filha vive na Holanda e diz-me que os centros culturais estão a fechar, ou a reduzir pessoal, na Inglaterra é a mesma coisa, se esta crise se mantém por muitos anos é muito complicado. Os museus não têm dinheiro para comprar. Eu comecei só agora comecei a ficar assustada, sou sempre muito positiva, mas vamos ver o que isto vai dar.
http://www.111.pt/#/pt/homepage/