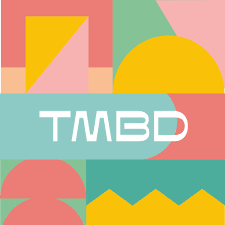Passados 40 anos ainda era difícil chegar até os familiares dessas pessoas e abordar esta questão?
JP: Não, isso foi relativamente fácil. Há pessoas que nestes últimos 40 anos estiveram sempre a falar sobre isto, porque ter um filho desaparecido, ou que ainda esteja na prisão, faz com que saiam em busca de respostas, mas há outros que não fizeram esse caminho, que não falaram sobre os seus desaparecidos no princípio e agora estão nesse processo que não é menos difícil. Muitas vezes o que senti, nas conversas longas de várias horas, nalguns casos de vários dias, como por exemplo de um casal de ex-presos políticos, durante a manhã entrevistava a esposa e de tarde o marido, é que trata-se de um processo interessante, porque as conversas não passam só pela experiência da ditadura e da repressão, mas a mim interessa-me imenso perceber as marcas que foram deixadas e que ainda permanecem, as relações com os filhos, como é sobreviver a estes momentos, como é viver sem saber onde esta a pessoa desaparecida? Que marca deixa nas pessoas? Em especial as mães, as que vão de autocarro e de repente saem correndo, porque vislumbraram uma figura que se parece com o seu filho. As ditaduras não lhes devolveram os corpos para poderem fazer o seu luto e enterrá-los. São marcas muito pequenas, mas que são muito significativas e que me interessa mostrar.
Então como se fotografa isso? Referiste o casal com quem conversaste durante três dias, eles falavam sobre a sua experiência e tu fotografavas ao mesmo tempo?
JP: Eu não gosto de fotografar as pessoas quando estão a falar. A entrevista não é o meu estilo, o que fiz foi retrato formais, posados, são pessoas a olhar para mim directamente, há um caso em particular que fotografei no Uruguai, de uma preso que levei de volta a prisão, onde esteve presa durante doze anos, coloquei-a novamente na sua cela e vi o seu olhar que é compleamente diferente. Há varios casos desses neste livro, são lugares que estão directamente relacionados com as histórias destas pessoas. Portanto, tem um forte simbolismo para cada uma delas e obviamente traze-los de novo para esses lugares produz emoção, todo um ambiente que fotograficamente funciona para mim.
Então como tornar tudo isto num objecto literário?
JP: Decidi fazer esta edição em três línguas, em português, inglês e espanhol. O difícil foi escolher as pequenas variáveis que temos em que pensar desde o início, porque isso condiciona o preço, a impressão e o tipo de objecto. Acho que consegui não tornar isto demasiado gigante, uma obra grandiosa, mas pelo contrário, é íntima, quase leve e que reflecte a proximidade das imagens que era algo que muito importante. Este é um livro para ler, ver e necessitava de estar próximo do leitor, é quadrado e isso permite criar um objecto com imagens que estivessem próximas do fruidor e que não necessitam de ser contemplá-las. Então como incorporar os textos e todo o material que tinha? Surgiu a ideia dos textos no papel vegetal, como se fosse um desses álbuns antigos, típicos de família que temos em casa, em que este tipo de papel cobre as imagens, gostei da textura, da transparência e usei-a. Esta forma permitiu imprimir o livro todo de uma vez, com as legendas a parte, num catalógo incorporado no fim. Não importa em que língua esteja as imagens são todas as mesmas e aparecem rigorosamente da mesma maneira e momento.
Porquê em três línguas diferentes?
JP: Este livro tem cerca de 40 páginas de texto que é bastante e não gosto de livros bilingues, porque o tornavam num calhamaço. Eu leio uma publicação, ou em inglês, ou espanhol, ou português e não em duas línguas ao mesmo tempo, isso torna o objecto mais limpo em termos de edição. Depois surgiu a ideia da brochura para explicar o que eram estas imagens, na contracapa do livro, com a mesma sequência, para justificar o que se esta a ver, trata-se de um objecto portátil e isso fazia todo o sentido para mim. Portanto, se uma pessoa quer ver só as imagens, vê, se quer ler só os textos pode fazê-lo e se quiser olhar foto a foto acompanhado da legenda também o pode fazer.
Alguma coisa coisa ficou de fora, olhando de novo para o "Condor"? Que poderia dar azo a uma nova publicação?
JP: De todo, aqui estão incluídas todas as imagens de arquivo, ao todo 176 fotos, eu tirei mais de 2 mil, mas o meu objecto de edição foi muito bom, demorei um ano e meio a fazer maquetes antes de ir para a gráfica, foi um testar e a minha preocupação é que não fosse algo demasiado pesado. O livro tem um total de 300 páginas, o tema não é ligeiro e era necessário ter em conta como as pessoas iam reagir a isso e um livro com demasiadas fotos torna-se muito cansativo, o principal era mostrar a complexidade sem ser demasiado maçudo.
Foi catártico este processo tanto para ti como para as pessoas que participaram?
JP: Para mim não foi, porque eu não tinha nada para fazer catarse, para algumas pessoas foi quando as coloquei em situações menos confortáveis. Acho até que para várias delas foi mesmo muito catártico, há duas pessoas no livro ( a segunda imagem no topo), a Dona Maria e a sua filha Sónia, ela perdeu o marido e o filho que foram levados pelos militares chilenos, no golpe de 1973, ambos foram fuzilados muito perto de casa, mas nunca se soube muito bem como aconteceu. Elas no início estavam ambas relutantes em falar, diziam-me que já se manifestavam sobre isto nos últimos 30 anos e nunca nada mudou, estavam contrariadas e depois de conversar com elas durante algumas horas, explicar o objectivo do meu trabalho elas finalmente aceitaram voltar ao lugar onde tudo aconteceu. Era uma área há duas hora e meia de carro de onde viviam, assim no dia seguinte fomos à Chihuio, onde tinham vivido e eles tinham sido fuzilados, procurámos o lugar e elas nunca tinham lá voltado. É agora um local coberto por pinhais e eu senti e elas também que tinha sido muito importante lá voltar, um reviver de tudo aquilo com menos peso e mais distância, para perceber a sua importância, não só a dor pessoal, mas ao mesmo tempo representava a dor de milhares de chilenos que perderam a vida. Foi catártico perderem o peso de algo que tinham sentido. Foi um privilégio ver estes processos de perto e eu ainda acompanhei a evolução destas histórias durante alguns anos, perceber como estão agora. Por isso, continuo em contacto com algumas dessas pessoas, ver como vão evoluindo e isso ajuda-me apesar de serem temas pesados, perceber estas loucuras ciclícas que o mundo vive.
Então, como é olhas para o mundo? Com esperança ou horror perante o que os seres humanos são capazes de fazer uns aos outros?
JP: Nós já sabemos que os seres humanos são capazes de fazer o melhor e o pior. Não tenho um olhar nem de desesperança, nem de amargura, basta olhar para a segunda guerra mundial, nem todos os homens que participaram no nazismo eram bestas, foram manipulados para essa causa e horror que foi o holocausto. Neste caso, como na ditadura portuguesa, como em todos os olhares, a conclusão a que chego é que existem pessoas que nesses situações cometem actos extremos, como é o caso de Condor, mas depois existem outras que estão do outro lado desse prisma e o meu olhar é atento e alerta. Temos de aprender com os erros do passado e os abusos que foram cometidos, para evitar replicá-los. Era fácil, agora que estou em França, depois dos atentados terroristas, ir todos para a rua e bater neste ou naquele, então o que aprendemos todos estes anos? Este tipo de acontecimentos servem para que possámos aprender e ajudam a reflectir sobre donde que vimos e o que seremos.
E qual é o novo projecto em que estas a trabalhar? Fechaste o ciclo do Condor?
JP: Mais ou menos, é difícil fechar o ciclo, a história continua e eu continuo a par, não quer dizer que surja algo mais, mas os julgamentos continuam a acontecer na Argentina, provavelmente no Chile vão começar em breve e isso é algo que me interessa muito, o processo de justiça universal, como discorre. Obviamente que faço outras coisas, algumas são encomendas, tenho ido com frequência para o Rio Janeiro, agora com os jogos olímpicos à porta gostaria de lá voltar e ver o que tem sido feito. Tenho várias ideias, mas uma das coisas que gostaria de fazer voltando à memória histórica era fotografar o Tarrafal, o campo de concentração de vários presos políticos portugueses, depois os africanos e olhar para esse espaço. Este tema da guerra colonial implica uma logística enorme e sinceramente quero falar com os veteranos portugueses, guinienses, angolanos e moçambicanos para isso preciso de meios que não tenho, o que não quer dizer que no futuro não seja possível.