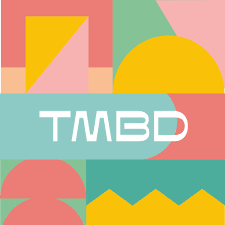Mas, o que faziam eram um rock diferente.
Rui Pregal da Cunha: Isso já parte das pessoas! (risos)
Muitos consideram que o documentário é uma arte menor, daí as dificuldades em obter financiamento?
Jorge Pires: Não, a ideia que há em Portugal é que é um tipo de filme mais barato e não é bem assim, é uma coisa diferente. Quanto ao ser uma arte menor quem é acha isso?
R.P.C: Com a quantidade de documentário que há, com a diversidade que existem no mercado ao nível de cinema e de DVD, acho que é gigante e não concordo também que seja menor.
Digo isto porque há cineastas em Portugal que criticam a televisão por emitir falsos documentários, ou seja, trata-se no fundo de um conjunto de entrevistas e imagens editados à pressa, no espaço de uma semana, quando não é assim.
Jorge Pires: Os teóricos do documentário, alguns pelo menos, defendem que o documentário seja como for é um exercício etnografia, nessa medida o nosso filme também é. Trata-se de um apontamento de folclore de uma certa época, num certo sítio, com umas certas pessoas. Nós fazemos etnografia. Agora, era o que Zé estava a dizer um programa com entrevistas não é um documentário. Mas, isso era preciso compararmos com a história do cinema e do documentário e daquilo que se fez ao longo dos anos 30 e 40. Há certos tipos de cinema que saíram do documentário e foram dar outros resultados historicamente, por exemplo, nos anos 40 fez-se o primeiro filme sobre um comboio e não tem pessoas, não tem diálogos, mas pode-se fazer desde que esteja bem feito. Pode-se fazer muitos tipos de cinema e é pena quando nos limitamos a aceitar uma só maneira, porque se é única, é pobre. Ao longo do século vinte houve muitas coisas que se fizeram, que se experimentaram, várias correntes de cinema que se desenvolveram e tudo isso é um panorama que tem uma riqueza que vale a pena explorar.
Está a falar no âmbito nacional?
JP: No geral, a mim não me interessa fazer um filme de acordo com as pessoas de cá, pretendo ser visto por um esquimó que não fale português e perceba o que se faz. E que interprete isso na medida que possa interpretar, as pessoas não tem que interpretar as coisas da mesma maneira. O cinema não deve ser feito para o nosso quarto, para a nossa gula. Para valer a pena tem que valer como se fosse para toda a gente. E a mesma coisa para a literatura, para a música. Picasso não poderia ter pintado quadros só para os espanhóis.
Mas, há espaço em Portugal para os documentários, há um crescendo?
JP: Desde os documentários do Michael Moore isto universalizou-se este tipo de linguagem, que existe a tanto tempo quanto o Nanouk, que é considerado o pai da etnoficção do documentário, e os filmes passaram a ser vistos em salas de cinema comerciais e não só em festivais. Nós somos contemporâneos desse surgimento, e não ressurgimento. E o facto de passar na televisão ou não, isso tem a ver com o facto de a TV absorver tudo e mais alguma coisa, tipo mastiga-las e cuspi-las cá para fora. Precisa de minutos, televisão acaba por não ser importante nesta história.
RPC: O problema da televisão e ela é chamada para aqui e falam na RTP 2, porque há a ideia que o documentário é aquela coisa do David Attenborough sobre animais em África. E não é! O documentário é aquilo que se quiser documentar.
JP: Há o exemplo do filme do Pete Barker sobre o Bob Dylan em Londres em 1964, há o documentário do Julien Temple sobre os Sex Pistols, aliás foi uma das coisas que durou.