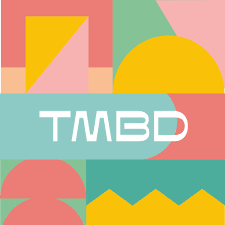Onde mora o mundo é o último trabalho discográfico de JP Simões que reflecte as suas idiossincrasias, o seu sentido crítico e irónico, num formato melódico diferente. Um pretexto mais que perfeito para abordar a sua música nada universal, como ele próprio o define e o seu percurso profissional.
Vamos falar um pouco o novo trabalho, onde mora o mundo, como tem decorrido essa viagem?
JP Simões: Já o lancei e fiz a sua promoção. Foi interessante, foi um disco que teve as suas complicações de criação e produção e saiu creio que bem, embora não seja um disco nada comercial, é feito pelas pessoas num estado de meta discurso.
Esse aspecto deve-se ao facto de ter uma componente forte de jazz?
JPS: Não é bem um disco com essa influência, mas sim, tocado por músicos de jazz. Foi composto por mim e pelo Afonso Pais e os músicos que tocaram são muito experimentados e tem uma formação nessa área. Jazz significa mais músicos com uma formação de excelência, que outra coisa. A única diferença entre músicos desta vertente musical e os clássicos, é que no jazz dá-se mais valor ao improviso em detrimento da execução rigorosa. É algo no limite. Foi só uma coincidência. O que eu fiz é uma questão de o fazer, escrever canções, a única diferença é que foram tocadas por músicos de excelência.
Este projecto teve previsto por diversas vezes várias datas para ser lançado.
JPS: Isso está sempre a acontecer. Tem a ver com muitos factores. Depende das editoras, há períodos de altos e baixos, depois existe uma preocupação em não perderem o seu papel enquanto empresas, porque os discos pura e simplesmente não se vendem. Há 30 discos para serem lançados na mesma altura e de facto, as coisas se atrasam sempre, pelo menos comigo foi sempre assim. Acho que se atrasa constantemente, porque as pessoas trabalham concertadamente e então só falam para a comunicação social que vão lançar um disco, quando tem a certeza que vai ser lançado. Não sei, já estou habituado a isso, faz parte do folclore.
Acha então que os músicos só conseguem sobreviver se fizerem concertos?
JPS: Acho que sim, o futuro dos músicos é fazer música. Como conseguem viver com ela, vai variando e é a tal coisa, não consigo fazer um vaticínio possível, mas o mais importante é tocar, estar com o público e ganhar dinheiro obviamente. Creio que é para isso que os discos servem. Para promover o nosso trabalho e despoletar um novo conjunto de actuações.
É um músico que o seu trabalho procura abordar diversas influências musicais. Faz uma pesquisa?
JPS: Eu gosto de música. Na verdade eu chego sempre ao presente meio surpreendido. As coisas sempre me aconteceram, as mudanças, as influências de género, ou de forma, tiveram muito a ver com as pessoas com que sempre toquei, com as músicas que se ouviam então. Daí que, eu tivesse esse ecletismo. Aconteceu naturalmente. Essencialmente surgiu por causa das pessoas que foi conhecendo e do género de música que gostava de fazer. Lembro-me que no caso dos Belle Chase Hotel eu tinha a ideia de só fazer soul e acabei por não fazer nada disso. O meu trabalho também mudou quando comecei a escrever para teatro e em português. Onde esse universo fizesse mais sentido e naturalmente que não me apetecia dize-lo através de punk rock, ou rock and roll, ou ainda o rythm and blues, o que estava mais próximo era a bossa nova com certeza. A música brasileira em geral, nesta metade do século XX, é muito boa. Desde Jobim até os seus poetas incontornáveis. É de uma riqueza incrível. Os géneros estão aí e todos eles têm intérpretes e composições maravilhosas. O resto é coincidências. Tem a ver com o que se vai fazer, ou seja, eu nunca me mantenho num mesmo género, porque a especialização não é o meu forte. Sou superficial por assim dizer.
Como foi mostrar um álbum de bossa nova cantado por um português no Brasil? Como foi a sua aceitação? Há uma forte penetração da música brasileira no nosso país, mas o mesmo não se afirmar no sentido contrário.
JPS: O álbum 1970 saiu em 2007 e desde essa altura até hoje, tenho sempre tocado no Brasil, duas vezes por ano. Não sou o chamado músico popular, porque a minha música tem a ver com as minhas idiossincrasias e as minhas limitações. Nunca foi muito festiva. Sempre foi irónica e auto-introspectiva e portanto no caso deste país isso não pega muito. A bossa nova e as composições dos anos 60 e 70 são coisas que os brasileiros não ligam muito lá. Apreciam mais uma música muito pulsante, muito popular, cheia de ritmo e com pouco esmero de composição. Desde o funk de favela até ao brega, o forro e a música sertaneja, são géneros musicais que movem muito as pessoas nas cidades do Brasil. Onde tinha mais acolhimento foi e é em São Paulo, onde há uma maior diversidade cultural e são mais organizados. Os critérios de aberturas são bastante grandes em relação a outros sítios. O Rio é muito fechado, está muito ligado a sua reputação, a não ser que seja alguém extraordinariamente famoso e aí tudo se move em seu entorno, se não for muito famoso não acontece nada.
Então é uma situação que não se aplica apenas ao teu caso especificamente, mas da música portuguesa em geral?
JPS: Há muita contingência. Muitas coisas se podem fazer. Eu nunca fui um tipo com uma grande estrutura promocional.
Mas, por escolha própria?
JPS: Por escolha própria e porque quem dera que alguém quisesse trabalhar comigo, que funcionasse a um alto nível de exigência, de resultados e que fizessem que eu tocasse em vários locais. Não sei, nesse aspecto já me pergunto, se a minha música não é universal ao ponto de que muita gente goste dela. Tenho que ver as coisas dessa maneira. Caso contrário vou ter que me queixar indefinidamente das pessoas com quem trabalhei, ou seja, as minhas idas tem acontecido por acaso, porque começou por uma jornalista que gostou do meu trabalho e conseguiu-me lá levar para eu tocar, através do SEMEC, que é uma instituição brasileira muito antiga, é uma espécie de fundação Gulbenkian e Santa Casa Misericórdia, acho que o ultimo músico português a ter lá ido, tinha sido a Amália precisamente. Estes contactos são curiosos. Resultam das circunstâncias, do bate-boca. É uma espécie de fenómeno musical e aí quase tudo acontece. Quando não se conhece é preciso disseminar e fazer com que aconteça em termos de produção. São sempre uma pescadinha com o rabo na boca. Para criar um público é preciso que as pessoas conheçam. É difícil. Não me posso queixar e não tenho tocado para comunidades portuguesas. Há sempre pessoas interessadas que fazem milagres para produzir a minha ida lá e nunca teve a ver por ser muito conhecido, ou ser muito disseminado ou ter uma estrutura decente.
Voltando um pouco atrás, afirma que não é um músico de verão, mais sim de Outono, porquê?
JPS: A minha música é mais introspectiva, auto-irónica e não é expressiva e espampanante como o verão. É uma expressão poética. Sou um músico melancólico tão só.
Porque decidiu escrever uma ópera?
JPS: Porque estava de desempregado e tinha tempo.
Perderam-se entretanto os masters do que já tinha sido gravado. Porque nunca chegou a repor esse projecto?
JPS: Porque o meu parceiro neste projecto estava, assim como eu, noutra. Aliás, a editora pegou no trabalho não sei quanto tempo depois e perdeu os masters e a partir daí, diga-se de passagem, as pessoas evoluem e o trabalho feito cinco anos depois, tinha de ser reinventado, porque não íamos fazer a mesma coisa, não faria mais sentido para mim e para o Sérgio Costa. Portanto, que se lixe, no bom sentido.
http://jpsimoes.blogspot.com/