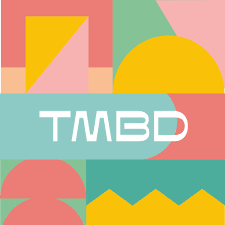Então, eu, uma fascinada por preto e branco, que me revia naquela estética, que pensei que iria durar para sempre, vejo-me numa encruzilhada entre o desafiada artisticamente e forçada comercialmente a transitar para a cor. Quando trilho para esta nova linguagem procuro nela o que encontrei no preto e branco. A singularidade, um fascínio de algo que era meu e que não visava mimetizar ou reproduzir o que via, o que os outros viam ou tentavam ver, mas que pretendia criar a possibilidade metafórica da construção do que é a fotografia. Passo para cor de uma forma não naturalista, porque não há nada na fotografia que seja natural e penso, como prática e como auxílio na documentação ela não se esgota nesse campo. O que fazia a preto e branco não era estrictamente documental, tinha uma base de observação, a conservação de coisas tangíveis e ao mesmo tempo tinha uma componente poética da qual não podia abdicar, assim todo o meu esforço de transição passa por essa necessidade de tornar essa poesia visível e descubro que na mesma contínua a não ser vendável. Claro que, como todas as pessoas que fazem um investimento muito grande para encontrar qualquer coisa e finalmente a acham, sentem dificuldade em abdicar dela. Entro na cor forçada, mas descubro que sou fascinada por ela e a primeira vez que isso acontece é quando vou fazer um trabalho as minas da Panasqueira, pensando eu, que o faria com toda a iconografia que conhecia sobre as minas, muito baseada na figura humana e no trabalho manual. Eu já me imaginava a fotografar muitos homens suados, com corpos naturalmente sujos, em esforço, num lugar sombrio. Depois de conseguir a permissão para entrar, assumindo a responsabilização por eventuais danos pessoais durante o tempo que estivesse na mina, embarco nessa grande aventura. Entro juntamente com o primeiro turno que se apresenta às cinco da manhã para entrar às seis na mina, porque os mineiros precisam de equipar-se, organizar-se, passar pelo escritório e eu faço o mesmo percurso, tinha sido literalmente avisada anteriormente que se não estivesse a essa hora, não entraria e não faria o trabalho. Portanto, estava tão preocupada que cheguei às quatro das manhã, uma vez que estava alojada a cerca de vinte quilómetros, atravessei a serra de scooter e quando cheguei à zona visível das infraestruturas mineiras, enquanto havia um compasso de espera, começo a olhar a volta e perceber, que tudo o tinha imaginado sobre as minas se transfigurava à noite, a cor tinha uma componente muito forte. A primeira imagem que fiz foi à superfície, era um misto de paisagem lunar com enfeites de natal. Olhava para tudo aquilo e não reconhecia a fisionomia, a forma dos edifícios e via sobretudo coisas que nunca teria visto durante o dia quando lá tinha estado. Tirei algumas imagens a cores de que gostei, mas sempre achei que aquilo que estava a fazer no exterior, nada tinha a ver com o interior.

Lá estou eu dentro da mina, depois de assinar o termo de responsabilidade, acompanhada por um engenheiro que iria servir como guia e a primeira coisa que vislumbro é um corredor mal iluminado até o ponto onde somos obrigados a sair, eu devidamente equipada e com umas botas maiores do que o meu pé, calço 38, com um único par de meias, o que foi um grande erro, porque era um percurso feito de água e a lama e é aí que percebi que os meus pés iam sofrer naquelas grandes botas. Assim que saio da carrinha olho à volta e não queria acreditar no que estava a ver. Em vez de avistar muitos homens, só havia os seis que tinham vindo comigo no transporte, ao contrário de ver um lugar sombrio, era um local cheio de luz, ao contrário de uma luminosidade monótona, ou seja, todas as fontes de luz representadas da mesma forma, eu verifico que dentro da mina as cores não tinham a mesma valência, era um festival de tonalidades que tinham o benefício de se reflectirem na água e na lama. Tudo aquilo era plasticamente lindo, completamente diferente do que tinha visto em termos de iconografia mineira e rendi-me. Percebi que todo o esforço que tinha feito na aprendizagem do domínio da cor e da luz pelo menos tinha servido para qualquer coisa.

Esta é a primeira constatação que também na cor eu tinha o meu espaço, coisa que até essa data nunca tinha sido evidente, já tinha feito imagens, naturalmente, mas nunca tinha olhado para a cor com a convicção de que o que lá estava fazia sentido e que me pertencia. Explorei a mina e nunca me lembro de ter olhado para a camara uma única vez, porque tive medo de tropeçar e continuei a andar pelas entranhas da montanha. O que me recordo claramente no final do dia, era o quanto me doíam os pés, só quando descalcei as botas verifiquei após tirar um par de meias que já não tinha nome, os pés completamente brancos e cozidos, cheios de bolhas e aí que percebi o sacrifício e o esforço que tinha feito lá dentro. Este é o meu primeiro grande marco, a revelação do não visto, não porque não seja acessível a toda a gente, mas porque nem sequer faz parte do nosso território mental. Na verdade tudo o que consigo imaginar, consigo conceber possível de fotografar, se não consigo fazer este processo, não consigo fotografa-lo. Dentro da mina tive a manifestação de uma coisa que me era inimaginável. Quando entro neste território da fotografia em coisas que para mim antes não eram possíveis, não existiam, não as podia vivenciar, como também comunicar, percebo que adquiri uma capacidade plástica, uma nova dimensão na fotografia que vai para além do visível e da minha capacidade de imaginar. De repente redescubro, aquilo que pensava que dominava a vinte anos. Afinal, ainda há muitas dimensões para abordar na utilização da cor e nesta noção do invisível, do oculto e que não é um espaço do quotidiano.

A partir desse momento, começo a fotografar quando ninguém fotografa, ou seja, de noite, de madrugada e faço um conjunto de sets fotográficos em que exploro essa componente, fotografo territórios a quem nós não atribuímos uma valência da cor. Mais uma vez voltámos aos acidentes bons da minha vida e a descoberta da ideia de encontrar novas dimensões na fotografia foi sem dúvida marcante, porque é transversal, não importa como esteticamente as coisas se materializam, o mais importante é perceber que há muitas opções que não são visíveis e óbvias, mas estão lá, como em qualquer linguagem. Esta descoberta é tão poderosa que podemos fazer dela tudo o que pensámos ser capazes de imaginar. Eu saio impregnada deste espirito de encontrar na fotografia coisas que me interessam imenso e já não conseguia voltar para atrás. Cheguei a um ponto em que, curiosamente compreendi que o que estava a fazer na fotografia de autor, fora do âmbito documental era muito parecido com o que fazia no teatro.

Ao longo da minha vida descobri que tudo o que estava cá fora continuava a ser teatro, ou seja, eu não estava só a ver uma nova exploração da fotografia, mas estava também a revisitar tudo o que tinha construído. Quando foi fotografar Marraquexe, e foram várias viagens, a primeira constatação que fiz é que as imagens que fazia na rua eram idênticas as que fazia do palco, a iluminação que o sol fornecia e a luz que insidia nos edifícios permitiam-me jogar com o claro e o escuro, utilizava a sombra como a caixa negra do teatro. Então, cheguei a conclusão que aquilo que tinha visto como uma revolução total, um pouco condicionada é certo, só chegou por esse meio e poderia ter chegado até mais tarde, por outras circunstâncias, porque o que estava a fazer era o que tinha feito sempre, só que com outra roupagem diferente e com uma profundidade muito maior. Não é porque produzimos imagens que nos tornámos fotógrafos. Eu gosto de dar um exemplo do artifício e do equívoco que existe em torno da fotografia, que é, não é porque vestimos uma bata e colocámos um estetoscópio ao pescoço que nos tornámos médicos. Significa que para além das ferramentas do ofício, há um conjunto de competências que nos habilitam a fazer determinada coisa. O que me torna fotógrafa é a minha capacidade de compreender o que quero nas fotografias, as suas potencialidades, o domínio da sua técnica e a sua capacidade de se constituir como linguagem acessível a um grupo, mas utilizada singularmente, ou seja, há a fotografia e depois existe a que eu faço e a consciência que encontrei o meu espaço.

Quando comecei então a construir o meu olhar, a minha carreira artística, o passo seguinte foi compreender a minha posição dentro desses mecanismos e depois foi puro prazer. O que tenho feito nos últimos anos da minha vida é de facto brincar no sentido mais construtivo e respeitador do termo com a fotografia. É a minha vida, acordo e adormeço a pensar nela, sinto que há um espaço que continua a ser interessante e estimulante, mas como manter esse desafio? Primeiro, percebendo as características intrínsecas erradas dessa linguagem e divertindo-me ao mesmo que crio objectos visuais que possa dedicar aos outros. A fotografia é comunicação e se assim não fosse deixava-me ficar pelo imaginário, por isso, gosto de faze-lo de forma inteligente para que a experiência dos outros seja tão estimulante como a minha.

Comecei por desconstruir muitas ideias vigentes sobre a fotografia. Nomeadamente, um conjunto de preconceitos que diminuem as suas 1000 possibilidades. Então decidi explorar as restantes 999, uma de cada vez, primeiro socorrendo-me de artifícios técnicos, através de uma lente que me permite focar de uma forma pouco convencional. A baby foca uma ínfima parte da imagem e o restante mantém-se desfocado. O que crio com isto? O equívoco da percepção. Todos estamos convictos que aquilo que percepcionámos é o que fotografámos, eu estou convencida do contrário. A melhor forma de o provar é o que espectador vai dizer, eu não vejo isto, mas trata-se de uma imagem fotográfica, portanto não trata apenas do que vejo, a fotografia pode ser baseada em qualquer coisa que pode tanto ser visível, como invisível.

Agora cheguei um ponto que a minha experiência na fotografia não é apenas visual, mas sim multissensorial. Durante algum tempo dediquei-me a um laboratório experimental de fotografia, em que se trabalhou muito a fotografia feita pelos invisuais, que embora não seja visual também é construtiva. A partir da análise das fotografias feitas pelos cegos, comecei a pensar que todos desprezámos os restantes sentidos na construção de uma imagem, o que nos rodeia é multissensorial, as fotografias também o podem ser, tenho é que saber como as criar usando todas essas possibilidades e naturalmente o sentido mais fácil de associar a esse conceito, que auxilia os invisuais na criação de uma imagem mental, é o som. Todos os fotógrafos cegos diziam que o som é quase tão importante como a imagem visual de um espaço e isso também é fotografia. Desafie-me fazer uma articulação entre a imagem e o som, partindo a imagem, permitindo que fosse descodificada em ondas sonoras. A fotografia assenta na ideia da memória que é uma materialização fiável de uma vivência. Todos sabemos que é um processo dinâmico de reconstrução e naturalmente o que vivemos hoje não rememorámos como vivenciámos a vinte anos, porque não posso pegar nessa imagem e imprimir esse mesmo dinamismo que terá daqui a algum tempo? Estou a fazer um jogo de memória, com a consciência do que tudo isso implica, a primeira fase é através de um software que descodifica os tons da imagem em tons musicais e depois eu posso ter a liberdade de agir quer num, quer noutro, de acordo com a optimização da minha memória para que a ligação funcione. E ainda vou na 997…