Yvette Vieira
O senhor fantástico

Ele é engenheiro informático, artistas plástico, formador, promotor de eventos, desenhador de banda desenhada e poliglota. Só lhe falta mesmo tocar um instrumento. É o senhor dos sete ofícios, uma autêntica força da natureza, que encara a sua vida como uma missão em que é preciso dar mais alguma coisa ao mundo. Seu nome? Roberto Macedo Alves.
Provéns de uma área científica, que é exacta, mas ao mesmo tempo és um artista, que é o universo privilegiado da criatividade, como conjugas essas duas facetas?
Roberto Macedo Alves: Eu preciso dessa conjugação para viver. Quando era mais jovem tinha dois amores. (risos) Sempre gostei de desenhar, ainda tenho desenhos, dos três anos de idade, que a minha mãe guardou. Possuía livros de banda desenhada (BD) desde antes de saber sequer ler, desde 1978.
Aprendestes a ler sozinho?
RMA: Dessa parte não me lembro, mas a minha mãe diz-me que sim. Na escola já assinava o meu nome, enquanto aprendíamos as letras.
Voltemos aos teus dois amores…
RMA: Primeiro gostava da BD, tentei desenhar desde sempre. Aos dez anos de idade encontrei um escritor de ficção científica chamado Isaac Asimov, descobri os robots e a cibernética, foi nos anos oitenta, aí decidi, quero fazer parte do futuro. A partir desse momento sempre quis ter um computador. O primeiro foi um Macintosh em 1986. Não havia melhor, desmontei-o uma semana depois de tê-lo, voltei à loja para me ajudarem com as peças que sobraram e funcionou de novo. Aliás ainda o ligo a corrente, trabalha e tenho as disquetes. Nunca tive coragem de deita-lo fora. Tenho uma prateleira com esse modelo, um Imac, o primeiro dos coloridos, o segundo melhor computador alguma vez feito e agora tenho o plano. Eu sempre quis fazer parte deste mundo, em que computadores falavam entre si, com máquinas avançadas, foi a partir dos 14 anos e chegou a um ponto em que tive de escolher: as artes, em que lia e desenhava, ou a informática.
Mas, nessa altura fazias tiras de banda desenhada?
RMA: Sim, começou com Júlio Verne, as vinte mil léguas submarinas, aos nove anos de idade. Achei o autor glorioso porque falava da Madeira. Eram os picos mais altos da Atlântida. No pico Ruivo viam-se umas conchinhas que eu associava aos livros. Li tudo sobre este autor até não haver mais, aliás, “o raio verde”, contém nas páginas quase todas as descrições das paisagens da ilha da Madeira, das suas praias de calhau e da vegetação. Era tudo fascinante, porque se tratava de uma publicação do século XIX. Adaptei também os livros do Sir Conan Doyle com dez anos. Li tudo sobre o Sherlock Holmes, os livros de ficção científica do professor Challenger e as publicações históricas. Com catorze anos transpunha os livros de Asimov para banda desenhada. Tenho uma obsessão com os autores de que gosto, leio tudo. Depois acabou e voltei a ler tudo em inglês, comecei pela BD, com a ajuda do dicionário. Eu comprava os livros em português, mas descobri um quiosque que os vendia em inglês e mais que havia um desfasamento de quatro anos entre as duas versões. Nas aventuras do homem aranha em Portugal, ele ainda era um herói solitário, nas americanas ele já estava casado com a Mary Jane há vários anos, só que estavam em inglês, eu não percebia metade do que lá estava e começou assim. Actualmente, o meu inglês é tão fluente como o português e o espanhol, só preciso de um interruptor mental para mudar.
Depois como começou a pintura?
RMA: Antes da universidade tive de optar, ou escolhia ciências ou arte. Como gostava das duas coisas e era muito complicado escolher, comecei a pensar em enveredar pelas ciências, se seguisse informática, ao mesmo tempo podia estudar arte pela minha conta e risco. Era mais fácil em termos de estudo, do que o cenário ao contrário. As ciências implicavam matemática, equações e cálculos e não tinha como saber se estavam correctos se os fizesse sozinho, em termos artísticos conseguia aprender com alguns livros e muita prática. Dos livros que tenho em casa, os de arte são cinco vezes em maior número do que os de informática. Cheguei a fazer adaptações dos meus super heróis preferidos da Marvel, como o homem aranha. Mesmo assim esses desenhos eram ranhosos, faltava-lhes prática. Comecei a andar com um caderno para todo o lado.
No metro, desenhava as pessoas que estavam à espera na paragem, a ler o jornal. Desenhava tudo o que gostava. Tenho mais de 50 cadernos de esboços. Só depois de ter gasto muito papel, de gastar centenas de folhas, é que iria consegui obter um resultado do qual não me ia envergonhar. Mesmo assim não chegou, porque embora a posse das pessoas fosse natural, nunca é imponente. Precisa de algo com mais impacto, comecei a ler os grandes mestres. Tinha lido um livro do Giorgio vasari, uma biografia sobre a vida dos grandes pintores, escultores e arquitectos. Falava de Leonardo Da Vinci, Miguel Ângelo e de todos os grandes artistas de pintura. Li que eles aprendiam a desenhar copiando uns dos outros. Foi uma revolução. Comprei um livro de Miguel Ângelo, reproduzi os desenhos todos da capela sistina a lápis, para ver qual era a estrutura em termos de anatomia, dos braços e as proporções. Depois cheguei a conclusão que com ele não conseguia desenhar mulheres. Passei então para o Leonardo, mas mesmo assim, só consegui dominar a figura feminina com Delacroix. Mais tarde já na faculdade, passei horas sem fim nos museus de arte sacra, na Gulbenkian e no Centro Cultural de Belém estava lá quase todos os fins de semana. Divertia-me imenso com as ciências, a noção do exacto, mas ao mesmo precisava de soltar a cabeça e libertar a criatividade, um complementava o outro. Hoje em dia ainda é assim. De manhã sou coordenador do departamento de informática da direcção regional de estatística e no final da tarde estou na loja, com desenhos, com os miúdos que chegam com os seus projectos de BD e planeámos eventos. Não conseguia viver sem um, nem outro.
Depois abraçastes uma vida profissional que te levou até Londres, porque é que voltastes à ilha?
RMA: Vivi uma temporada lá. Mas, de repente senti a necessidade de uma vida mais pacata. Preciso de voltar as origens, de paz e sossego. Andava sempre naquela correria toda e sentia-me escorrer. Olhei-me ao espelho, senti-me velho, abatido e gordo, parecia que tinha quarenta anos, acabei por voltar. Toda a gente me dizia, és doido, daqui a três meses estas de volta. Necessitava de estabilidade familiar, mas apercebi-me que isto era mais parado do que pensava e comecei a mexer-me. Tentei sempre trazer mais animação.
A força que ninguém pode parar


A associação presença feminina é uma entidade de utilidade pública com o objectivo principal de apoiar as vítimas de violência doméstica. Desde 1995 que desenvolvem um trabalho meritório que engloba não apenas o atendimento das pessoas que recorrem a esta instituição, mas apostam sobretudo nas acções de sensibilização junto dos mais jovens, no sentido de prevenir futuras situações e mudar mentalidades. Um trabalho titânico que poderá ser posto em causa, devido a falta de espaço e de verbas para anexação de técnicos especializados.
Gostaria por começar pelo balanço que faz da actividade desta organização desde a sua génese em 1993?
Helena Pestana: Trabalhámos em três áreas fundamentais. Uma delas é apoiar as vítimas de violência doméstica, num total de cento e quarenta e seis casos que estamos a acompanhar neste momento. Noventa e três destas mulheres vieram pela primeira vez até nós e 53 processos decorrem ainda de anos anteriores, porque estão em tribunal. Houve uma subida dos pedidos de ajuda substancial, no ano passado recebemos 67 em oposição aos 93 do ano passado. No espaço que viu, fazemos o primeiro atendimento, onde estás pessoas vêem para uma primeira consulta.
Elas aparecem por livre e espontânea vontade na vossa sede, ou são encaminhadas por outras instituições que lidam com estas mulheres alvo de violência?
HP: Temos variadíssimas situações. Há pessoas que chegam encaminhadas pela rede, nomeadamente segurança social, centros de saúde, PSP, vizinhos, amigos e familiares. O que fazemos cá? Num primeiro atendimento prestámos todos os esclarecimentos necessários, tomamos conta do problema, ouvimos sobretudo, porque isso é o mais importante. Muitas pessoas vêm nessa expectativa, de serem ouvidas, para falar do seu problema. Não temos receitas, nem podemos dar conselhos directos, dá-mos é alternativas, ideias construtivas e perante esses cenários as pessoas tomam as suas decisões. Tem de ser a vítima, neste caso a mulher, porque a vasta maioria é do sexo feminino, a procurar-nos. No entanto, dos 146 casos referidos anteriormente, quatro são homens. Depois dessa primeira aproximação e reflexão sobre a problemática, através da associação, ou dentro do nosso espaço, fornecemos apoio psicológico, jurídico e social, no caso de carência de calçado, roupa e alimentos. Eventualmente em casos de risco de vida e sem suporte familiar, como apoio, fazemos o encaminhamento para as casas abrigo. A associação gere uma das três residências existentes em toda a ilha. Depois há todo um trabalho que é desenvolvido após a entrada da mulher na casa abrigo. Elaborámos um projecto individual anual, ao nível das suas competências pessoais, sociais e parentais, porque as mulheres ou estão sós, algumas, ou acompanhadas pelos seus filhos menores. O objectivo é uma boa reinserção social e sair com alguma segurança em termos laborais e uma habitação condigna.
Qual é o perfil destas mulheres vitimas de violência domestica?
HP: São mulheres entre os 25 aos 70 anos de idade. Embora, a maioria se situe entre os 35 aos 45 anos de idade. A média é maior nestas idades. Uma diferença que notámos, não substancial ainda, mas que se nota, é o aumento de pedidos de ajuda das mais jovens. Neste momento, atendemos mulheres mais novas, entre os 24 até os 26 anos de idade. Já vemos uma luzinha no fim do túnel, porque estes dados indicam que as pessoas já não se deixam manter anos á fio em situação de violência. Estes resultados serão fruto de toda a divulgação que o plano regional tem tido. O papel dos órgãos de comunicação social nesta matéria e toda a rede que trabalha em prol das vitimas. Julgo que todos estes factores contribuíram para dar mais confiança as mulheres.
Há também a ideia que a grande maioria destas vítimas provém de meios sociais mais carenciados.
HP: Em termos gerais isso é um mito. Sabemos que a violência doméstica não tem fronteiras, abrande todas as idades, é evidente que na sua grande maioria é o sexo feminino que esta referenciado. Na associação as pessoas que nos procuram são da classe média baixa, com um nível de escolaridade que se fica pelo primeiro ciclo. Este ano, tivemos seis mulheres formadas com curso superior que nos pediram ajuda. Então, porquê é que a maioria que nos procura é de classes sociais mais carenciadas? A associação oferece vários serviços de forma gratuita, é evidente que alguém que possui uma condição económica mais favorável acede a esses meios de forma individual. Essa condição permite-lhe resolver certos problemas, como é o caso para onde vou? Mas, não a livra de outros factores. É um trabalho articulado, que necessita de um conhecimento profundo da situação real de cada pessoa. De 93 casos novos este ano, 64 em que as vítimas referiram o factor álcool como sendo importante. Elas acreditam que esse factor provoca a violência doméstica. É outra vez um mito, mas elas acreditam. Não é verdade, o álcool apenas faz despoletar, faz potenciar o gérmen da violência que já existe. O álcool é uma forma de expandir esses comportamentos e desculpabilizar a violência. Pelos números nós chegámos a conclusão que não é a baixa situação económica que está como factor primordial. Em termos sociais nós apoiámos 149 pessoas e só 26 delas são referenciadas com violência doméstica, Ou seja, ajudámos com roupas, alimentação e alguns medicamentos. Voltámos ao princípio, eu não posso com estes dados tirar conclusões, porque estas 123 mulheres não referiram qualquer tipo de problemas de violência nas suas residências. Se a família for estruturada e se houver valores, o tal amor com letra grande, poderá ser até uma situação em que as pessoas se unam, partilhem e procurem resolver a questão económica.
Nos homens que atendemos este ano é evidente o sentido de poder em relação ao outro, porquê? Ele diz que por estar desempregado, sente que a mulher o agride psicologicamente, que se sente diminuído por estar sem trabalho. É este factor que está associado a outros que já esta na sua personalidade e maneira de pensar. Se ele tivesse uma situação de igualdade em relação a mulher, não é por estar desempregado que ela o vai rebaixar, no entanto pode acontecer. Tem a ver com a sua auto-estima. Voltámos ao núcleo familiar, se há desequilíbrio não é o desemprego que o vai despoletar. Tem a ver com as pessoas.
O montanhista
Começou como director de fotografia para documentários, mas a sua paixão pelas imagens levou-o até realização de filmes documentários sobre as montanhas e decidiu ainda captar a sua essência através da fotografia.
Como é que surgiu a ideia para esta temática?
Ricardo Jardim: O que eu faço não é propriamente um tema, tenho uma relação muito particular com a montanha e fotografo-a de uma forma quase obsessiva a várias décadas. Há uns quinze anos atrás comecei a trabalhar de uma forma mais séria. Aprendi fotografia, estudei um pouco arte, comecei a aprender como é que se fazem os enquadramentos e foi aperfeiçoando ao longo dos anos o meu trabalho, mas não é propriamente um tema, eu faço só isto.
Então só fotografas as áreas montanhosas da Madeira?
RJ: Eu trabalho em outras montanhas do mundo, mas lá está como esta exposição esta associada a um evento na ilha, decidi mostrar apenas as imagens que captei cá. Já fotografei o Atlas, os Alpes e os Pirenéus, mas o grosso do trabalho é de facto a Madeira.
Porquê este fascínio pela ilha? O que te atrai?
RJ: Atrai-me a paz, o silêncio, o fugir um pouco à insanidade do homem, que é representado pelas cidades, embora as urbes tenham coisas que considero tão harmoniosas como a montanha. Nas áreas urbanas essa não é regra, nas montanhas sim. Talvez por isso passe mais tempo na montanha do que na cidade.
Esse factor está relacionado com a prática desportiva?
RJ: Eu não pratico desportos radicais. Tenho actividades que podem ser consideradas desporto, mas que não as pratico nesse sentido. A caminhada e a escala não é um desporto, é uma maneira de chegar ao topo da montanha para a fotografar e filmar. Faço-o sempre como um lado contemplativo e não como desporto.
O brasileiro romântico

O actor Reginaldo Faria é sobejamente conhecido pelo público português. Do cineasta já não podemos dizer o mesmo. A pretexto da apresentação do seu último filme “o carteiro”, que estreou na Europa, no Funchal Internacional Film Festival ’11, falamos um pouco sobre esta história bucólica, divertida e poética sobre a vida de um carteiro apaixonado, com a mania de meter-se na vida alheia. Abordámos também o cinema brasileiro, a sua filmografia e no final, as suas origens madeirenses. É verdade leram correctamente, a família Faria provém de uma localidade chamada Câmara de Lobos.
É conhecido do público português pela sua faceta de actor nas telenovelas, desconhecíamos o cineasta, como surgiu a ideia para o carteiro? É um filme muito bucólico.
Reginaldo Faria: Advém de ter sido filmado nessa região centro do Ribeirão do Sul, no Vale Vêneto, que tem a quarta maior colónia italiana do Brasil, que é a terra da minha mulher, através dela eu me inspirei, foi lá de propósito para realizar este filme.
Quando introduziu a temática deste filme, focou a questão de que o cinema actual brasileiro produz apenas comédias e filmes violentos, porquê? Acha que outra forma os brasileiros não vão até o cinema ver este “ carteiro”?
RF: Eles têm uma certa reacção, que resulta de um certo condicionamento cultural nos dias de hoje. O mercado pede muito outro tipo de filme, pede violência, pede terror, pede comédia rasgada e quando você faz um tipo de filme como o meu que tenha um toque de humor, ele fica marginalizado no mercado. A gente tem que trabalhar muito, para não ficar sem ser visto.
Porque acha que isso acontece? Acha que há um retrocesso em termos de qualidade?
RF: Não acho que seja isso, há filmes brasileiros maravilhosos, como o “tropa de elite” que faz uma análise social muito importante. Não é bem essa a questão, é mais de modismo. Brasil é assim, se alguém faz uma comédia e tem sucesso toda a gente faz um filme igual. Se alguém faz um filme policial e tem sucesso, toda a gente faz o mesmo. Eles não têm uma originalidade, não querem buscar outras coisas. Acho que o cinema tem diversas vitrinas, janelas que podem ser apresentadas. Eu parti para esse projecto e ver o que acontece.
Qual foi então a reacção do publico brasileiro ao Carteiro?
RF: Ele não foi lançado. Ele ganhou um prémio no festival de Gramado venceu na área de fotografia, no de Goiás ganhou com a melhor música e actriz coadjuvante.
O príncipe de são josé


O forte de São José localizado no Funchal é um equívoco jurídico de acordo com as palavras de Dom Renato, que resolveu aproveitar o erro e criar um micro Estado em pleno Atlântico. Uma excentricidade que só foi possível graças ao estado português, que no século passado, decidiu vender este pequeno território com o intuito de arrecadar verbas. Agora, imaginem se ganhassem o euro milhões. Compravam um ilhéu? Venham conhecer o dono do principado da Pontinha.
O que o levou a comprar este local em particular?
Renato Barros: Comprei o território acidentalmente, um dia conheci os antigos proprietários e decidi adquirir o forte de São José. Na altura chamara-me louco, passados 12 anos, continuo a ser louco porque não vendo a ilha.
Quanto custou na altura?
RB: Custou 45 mil euros, há carros mais caros do que o meu país.
Numa das entrevistas que concedeu declarou mais do que uma vez, que o principado teria vários pólos de atracção, nomeadamente uma marina, verifico que nada disso aconteceu.
RB: Portugal tem 800 anos e ainda não encontrou um rumo económico. O meu principado tem apenas dois anos, veja o tempo que disponho para chegar ao lado de Portugal. Aliás, eu penso que os portugueses não se vão extinguir como nação, mas vai ser um povo subalterno de outra potência, porque não tem nada. Costumo dizer aos estrangeiros que Portugal tem três coisas, o Cristiano Ronaldo em Espanha, as bananas, mas nem sequer temos o fertilizante e o sol. De resto, Portugal nada tem, para além, dos políticos que conseguem esconder bem o dinheiro e algum charme. Não diria que são uma camada de aldrabões, porque a população portuguesa não é aldrabona, mas infelizmente a maioria que os governa, aqui ao lado da minha ilha, são.
Não acha que é um contra-senso criticar os portugueses, quando trabalha em Portugal?
RB: De modo algum, eu sou um emigrante. Não é um contra-senso, minha senhora, eu se fosse viver na minha ilha, se destruísse aquelas relíquias, iria arruinar uma parte da história da ilha. Não se esqueça que foi lá que ocorreu a primeira q... do Atlântico. Tudo isso aconteceu na minha ilha. Zarco e a esposa quando chegaram para colonizar a Madeira ficaram lá hospedados, foi o local escolhido de acordo com a história dos descobrimentos.
Eloy, o activista verde
António Eloy é o responsável pela organização do primeiro Festival de Urânio que teve lugar na cidade do Porto, na Casa da Horta. Um evento, organizado pelo activista social, consultor para energias limpas, professor e escritor, que visa promover a consciencialização das populações para os perigos da energia nuclear e o debate de outras temáticas relacionadas com os filmes em exibição.
Qual é a importância deste festival ao nível nacional?
António Eloy: Este festival surge como extensão de um que se realizou no Rio de Janeiro. Vamos mostrar os filmes mais importantes que passaram nesse evento. Foi-me entregue a coordenação deste festival pelos organizadores brasileiros aquando da sua passagem por Portugal, durante as filmagens sobre a mineração de urânio em Nisa e alguns contactos com a zona de Urgeiriça. Dei-lhes uma explicação da minha actividade social e profissional nesta matéria e expliquei-lhes o problema que se colocaria a uma futura e hipotética mineração em Nisa, as dificuldades que já existem em termos de recuperação das áreas minadas, os problemas sociais e de saúde pública dos trabalhadores e das populações em toda esta zona da Cova da Beira. Foi uma grande conversa, ficámos em contacto e eles desafiaram-me para organizar esta extensão do festival no Porto. Estamos a pensar transpor este evento, no mês de Janeiro, para a cidade de Lisboa. Contámos também com a disponibilidade das autoridades locais para mostrar os filmes em outras zonas do país, embora estes filmes estejam centrados na produção, também focam os problemas adjacentes do ciclo de urânio, da produção de energia em centrais termoeléctricas, a utilização dos seus resíduos para a fabricação de bombas com urânio empobrecido e do armamento de destruição massiva que é abordado em filmes com muita qualidade.
Porquê decidistes trazer este evento até aqui, achas que não se dá a devida importância à questão nuclear no nosso país?
AE: Em Portugal temos vários problemas relacionados com o ciclo de urânio, a mineração na Cova da Beira que provocou sérios prejuízos e ainda tem efeitos ambientais, na saúde das populações e dos trabalhadores. Há a hipótese de abrir uma nova jazida, na zona de Niza, que se depara com uma forte oposição popular e com uma análise de impacto ambiental muito negativa. Este festival poderá ser repercutido nestas zonas e contribuirá para criar um movimento de opinião pública, ajudar a recuperar zonas devastadas e impedir que novas áreas sejam destruídas. Em Portugal, e já foi objecto de debate, temos pessoas que defendem a instalação de centrais nucleares. Finalmente, temos o problema das centrais espanholas que estão aqui ao pé, da central de Almaraz, do encerramento das usinas na zona da Andaluzia, tivemos a ameaça da criação de um cemitério radioactivo perto da fronteira portuguesa e no passado procedeu-se ao encerramento das fossas marítimas atlânticas o que nos preocupou muito na altura, embora esse problema esteja afastado.
No programa não constam quaisquer filmes sobre a questão do urânio em Portugal, isso é porque pretendem mostra-lo em Janeiro?
AE: Temos a garantida da estreia mundial de um filme sobre a zona de Nisa, realizado pela Márcia Gomes e pelo Norbert Shuchanek, que aborda estas questões concretas da hipotética mineração nesta zona. No âmbito deste festival, estive a desenvolver alguns contactos, nomeadamente com um grupo de jovens que fizeram um filme sobre as minas da Borralha e que se mostraram interessados em fazer filmagens sobre a Cova da Beira com dois enfoques alternativos. Esse projecto está a ser estudado e é evidente que se for para frente o documentário será mostrado, não em Janeiro, porque não haverá hipótese de o fazer em tão curto lapso de tempo, mas numa extensão do festival que faremos no final do ano de 2012, início de 2013.
Quais são os filmes que podes destacar desta mostra?
AE: Ontem, visionámos um filme tremendo sobre o impacto das bombas em cenários de guerra, que também afectam portugueses e as tropas de várias nacionalidades que têm sido expostos as radiações das bombas de urânio empobrecido. Nomeadamente na Bósnia, nos Balcãs e no Iraque. Vimos um relato impressionante de ex-soldados americanos que denunciavam estas situações. Outro dos documentários que constam da programação visa o comboio castor, a transferência de resíduos altamente radioactivos para a Alemanha, onde são depositados numa salina desactivada em Gorlenben durante milhares de anos. Assistimos as manifestações e a oposição das populações locais que demonstram uma posição muito empenhada e consciencializada nesta matéria. Uma estreia mundial neste festival será o documentário sobre as minas de Caetité. É uma extracção a céu aberto, que tem provocado um impacto devastador no meio ambiente e em termos de saúde pública. Outra das histórias que vamos abordar é a mineração nos EUA e a destruição das terras dos indígenas americanos. Vamos continuar a ter debates concentrados em várias temáticas, de referir a conservação e eficiência energética tudo relacionado com o ciclo de urânio, da produção e transformação desta matéria-prima em energia.
O trovador de ideias


O Élvio Camacho é um apaixonado pela sua arte há mais de vinte anos. Um percurso profissional abnegado cheio de altos e baixos, que assenta sobretudo na actividade do Teatro Experimental do Funchal. É no palco que nasceu e cresceu como actor. É o seu meio natural, onde procura extrapolar o imaginário em cena para o público, para que as palavras ressoem na audiência e os façam pensar.
Escolheram colocar em cena o “Madeira my dear”, uma peça com apenas duas personagens e com uma temática muito regional. Porquê essa escolha?
Élvio Camacho: O funcionamento em parelha já é teatro. Costumámos dizer que um actor só pode fazer um monólogo, mas o restante é essencialmente contra-cena. Sempre gostei de fazer espectáculos com apenas duas pessoas. Há uns anos atrás fiz uma parelha com a Paula Guerra, com textos do Alberto Caeiro, fizemos um espectáculo itinerante que ainda hoje está no reportório do Teatro Experimental do Funchal (TEF). O porquê deste “Madeira my dear”? É baseado em três contos do Ernesto Leal, que é um madeirense que faria no ano de 2013 100 anos. É alguém muito viajado que nos deixou quatro textos sobre a Madeira da sua infância, que ele deixou, que nunca desdenhou e deixou-nos uma impressão sobre essa ilha, magnifica. O homem que comia névoa. Tio, ilha, anonas e estrelas dizem algo a qualquer madeirense que lê esses contos, pela maneira como são escritos, as pessoas ressoam neles. Revêem-se nos mesmos. Ernesto Leal já merecia que se adaptassem estes textos ao teatro, até porque tem uma teatralidade implícita, há muito diálogo e pensámos porque não adapta-lo e mostra-lo aos madeirenses?
Porquê? É ainda muito actual passados quase cem anos?
EC: No teatro não fazemos reconstituição da arqueologia, isso faz o folclore e a fotografia. São actuais porque falam de princípios eternos, da névoa, se calhar nós não fazemos milho numa panela de ferro de três peças, assentes num chão de terra como descreve, mas todos nós sabemos o que é isso.
A idiossincrasia dos madeirenses está lá?
EC: Completamente. A neblina da montanha, do eco, como nós soamos. Há um texto do Ernesto Leal que explica o sotaque madeirense, ele diz que soámos como uma braguinha, o instrumento tradicional, também devido a orografia da ilha que faz com que necessitemos de ser ouvidos do outro lado. É de uma modernidade espantosa. É eterno em nós. Temos o mar que tempera tudo à nossa volta, uma montanha que nos provoca ecos e ouvimo-nos demasiado. São contos que todos os madeirenses deviam ouvir. O titulo “Madeira my dear”, é de uma música celebre de uma dupla Donald and Swan, dos anos 50, que fizeram um espectáculo chamado, “how to drop of a hat” e um dos temas é “have some madera my dear”, é um velhote que convida uma rapariga jovem para beber um cálice de vinho madeira na sua casa e daí a brincadeira. Eu pensei que a universalidade do Ernesto Leal dá este toque de brinde à Madeira. Estamos a fazer acção local, mas a falar para o mundo inteiro, por isso, deve-se coloca-lo como título do espectáculo, que também se poderia chamar o homem que comia névoa.
É um título lindo.
EC: É, mas este texto está na íntegra no espectáculo, mas como são três contos do Ernesto Leal e não são apenas um pretexto na peça, são respeitados e tivemos de encurtar algumas partes por serem extensas e não se adequarem ao palco e ao que nós precisávamos, mas é o universo do autor e existem vídeos no meio do espectáculo, dos nossos tempos, de uma personagem que trabalha aqui no cine teatro, é uma personalidade madeirense que faz um convite à imaginação. Falámos de ipads, de furnas e vamos mais além, o que o Ernesto Leal está a incentivar? A capacidade de imaginário de qualquer pessoa do mundo, sem ser madeirense, o espectáculo tem essa capacidade de não ser uma fotografia dos textos do Ernesto Leal serem escarrapachados no palco. Temos de criar ideias sobre esses textos.
A jurada bambolina
Ana Brito e Cunha quase dispensa apresentações. É uma das actrizes portuguesa com um grande percurso profissional pelas artes cénicas e pela televisão. Este ano aceitou o desafio para ser juiz do FIFF’11, um convite que muito a orgulha e que é mais passo numa já longa carreira artística.
Do que já viu como juiz num festival de cinema, qual é a sua opinião sobre os trabalhos apresentados de uma forma geral?
Ana Brito e Cunha: Este foi a primeira vez que fui juri neste género de competição.O que para mim é um privilégio. Acho que a qualidade do festival foi muito acima do já esperado, sendo esta é a 6ª edição e consciente de que este festival tem primado pela qualidade, agora que estive mais por dentro, sinto um enorme orgulho em perceber que a qualidade dos artistas presentes foi muito boa mesmo. O facto de ser internacional permite uma interessante troca de impressões sobre esta arte e ser bem abrangente,
Como surgiu o convite?
ABC: Atraves do director do Festival, o Henrique Teixeira. O ano passado apresentei a cerimónia de fecho. Este ano fui jurada. O que me honra bastante e lá esta me permitiu a oportunidade de alargar os meus conhecimentos e experiência.
O homem sonha, a obra nasce

É a sexta edição do Funchal Film Festival. Um evento que, apesar das limitações financeiras, tem uma programação ambiciosa agendada para este ano. De destacar, uma retrospectiva à obra do cineasta brasileiro Roberto Frias, uma homenagem ao britânico Terry Jones e muito, muito cinema europeu e nacional, como nos conta o seu director, Henrique Teixeira.
Qual foi a evolução do Funchal Film Festival desde a primeira edição até a sexta?
Henrique Teixeira: Eu continuo achar que este é um festival modesto. É pequeno, no entanto, olho para atrás e rio-me do que já fiz. De facto houve uma evolução. Eu lembro-me que na primeira edição eu não tinha dinheiro sequer para legendar os filmes e houve alguns em que os espectadores ouviram a língua original. Assim, é difícil. Não atrai público e é impensável acontecer. Era preciso arriscar. Correr o risco de ser criticado e as pessoas acharem que não valeria a pena. De facto, apesar destes sobressaltos viram que havia um projecto com pernas para andar. Eu lembro-me que foi possível trazer a custo quase nulo a actriz Vitória Abril. Ela ajudou a abrilhantar o evento, porque é uma cara conhecida por ser uma chica Almodovar e foi uma mulher, durante os três dias que cá esteve, de uma energia incrível, um vulcão como os espanhóis dizem. Deu nas vistas, abrilhantou o festival e teve muita gente a apoiar e a desejar a sua continuidade. E assim foi. O segundo festival aconteceu com mais algum apoio e as empresas privadas verificaram que poderia haver aqui um veículo para a promoção dos seus produtos. As duas entidades envolvidas na organização que, são a Câmara Municipal do Funchal e a secretaria regional do turismo e cultura, também começaram a apadrinhar este evento de uma forma cada vez mais visível. Esta sexta edição é diferente pela redução dos apoios financeiros, mais nada. Corta com imensas ambições que tínhamos para este evento, mas recentemente apareceu o apoio extraordinário de um grupo hoteleiro, Porto Bay que ajudou a viabilizar a realização deste projecto. Temos que ajustar e adequar a programação aos actuais apertos que decorrem da realidade que vivemos. Isso é visível no júri, que de cinco elementos passou para quatro. Na secção dedicada ao cinema regional, também houve alguns cortes.
Em termos de programação algo mudou?
HT: Não, basicamente a programação é rigorosamente a mesma. Temos a competição internacional de longas e curtas-metragens. Há uma retrospectiva dedicada a um realizador de topo no Brasil, que é o Roberto Faria e temos algumas situações pontuais, como uma sessão vínica, apoiada pelo instituto do vinho madeira e uma sessão de abertura, com a homenagem ao Terry Jones, com a vida de Brian e não menos importante secção de cinema animado dedicado ao público infantil. É fundamental que os miúdos venham ao cinema e ao teatro municipal. Além de um workshop que temos preparado com a ajuda da little film academy.
Recentemente numa entrevistas afirmastes que o FFF’06 só ganhou projecção depois da participação em Cannes. Sem esse tipo de promoção um festival destes não subsiste?
HT: Os festivais têm ser constantemente promovidos. Tem de se auto-divulgar em permanência. Nada melhor do que o mercado europeu em Cannes. Durante o festival de cinema, acontece um evento denominado de mercado de filmes, a indústria profissional está toda lá instalada, são cerca de 12 mil acreditados que durante seis dias, é um formigueiro de produtores, realizadores e distribuidores que, promovem as suas produções. Nós de uma forma muito simples, sou eu numa bolsa a tiracolo, tento accionar reuniões para mostrar o material reunido aqui na Madeira. Explicando, motivando o interesse sobretudo das produtoras internacionais para trazerem os seus filmes cá.
Então há diferenças significativas desde a primeira edição?
HT: Completamente, porque na primeira edição nos apelámos muito ao interesse das distribuidoras nacionais, ou seja, as empresas que colocam os filmes nas salas e tem os direitos de autor adquiridos no nosso país e mesmo assim chegámos a alugar cópias para mostrar nesse primeiro ano. Tínhamos um site para efeito, foram enviados 17 filmes e nenhum deles era passível de ser mostrado ao público. A partir da promoção do festival em Cannes, no ano seguinte, as submissões aumentaram para uma centena de filmes logo de imediato e nesta 6ª edição recebemos um total de 400 trabalhos que foram enviados entre Maio e Outubro.
Os entusiastas do teatro


O casca de noz nasceu em 2001, no seio da associação académica e cultural de Ermesinde, com o intuito de levar peças teatrais até o público em geral. É um grupo heterogéneo de pessoas em que o denominador comum é o teatro. Passados dez anos, a vontade de criar, montar e encenar espectáculos ainda se mantém como no primeiro dia em que se ouviram pela primeira vez as pancadas de Molière no palco. Uma determinação que se mantém à custa do amor que sentem pela arte e pelo carinho do público, duas vezes por semana com espectáculos de três horas por sessão, como nos conta uma das responsáveis e actrizes do grupo, Maria Fernanda Rodrigues.
Como surgiu o casca de noz?
Maria Fernanda Rodrigues: Surgimos como grupo de teatro em 2001. Fomos desafiados pela Câmara de Valongo para participar numa mostra de teatro amador, que já exista a cerca de 15 anos. A partir daí todos os anos pomos em cena uma peça nesse evento.
Para além de participar nessa mostra de teatro amador, qual é a restante actividade do grupo?
MFR: Criámos peças para a mostra e depois repomos para o público em geral.
Há muito público que vai até o teatro ver as peças?
MFR: Há muito público. Em Valongo existem cerca de 15 grupos de teatro amador. Nós fomos o segundo a aparecer em Ermesinde e temos uma adesão muito grande por parte do público, o auditório das artes do fórum cultural tem 300 lugares e normalmente nas nossas reposições temos casa cheia. O que é muito bom.
Qual é o critério de escolha para as peças de teatro? O que procuram?
MFR: Inicialmente começaram por ser autores portugueses. Encenámos vários, entre eles, Gil Vicente. Ultimamente fizemos uma incursão pelo teatro absurdo com Dionesco, a cantora careca. A produção mais recente foi uma adaptação de textos poéticos para teatro. Por norma, a escolha dos textos recaí no elenco e consoante as peças disponíveis para um grupo tão grande de pessoas. Nós somos entre 15 às 20 pessoas em palco.
Podcast
Eventos
-
MMI- Reabertura de aquário dos bacalhaus
17-09-2016
O Museu Marítimo de Ílhavo reabre o Aquário dos Bacalhaus, depois de um período de obras de...
-
Cineteatro louletano- Programa Dezembro
 12-02-2016
12-02-2016
No dia 15, sexta-feira, às 21h00, há uma estreia que resulta de uma coprodução entre o Cineteatro...
-
Teatro Baltazar Dias-Programa Dezembro
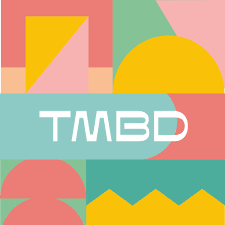 12-09-2015
12-09-2015
O último programa do ano que encerra como sempre com música... Feliz ano novo 2025...
-
CCVF e CIAJG- Concertos e Guidance
 06-06-2015
06-06-2015
A Oficina desvenda os primeiros dois concertos de 2025, a 18 de janeiro e 26 de fevereiro, no Centro...








