Yvette Vieira
Uma nova dinastia

É o álbum de estreia de uma jovem banda açoriana, com sabor a mar português.
São jovens e isso nota-se neste trabalho discográfico. Falta-lhes a maturidade que advém do tempo e da experiência. Mas, e há sempre um, para um primeiro álbum, não esta nada mau. É sempre um desafio escrever letras em português, ainda mais quando se fala em pop rock. “Outro lugar”, é um tema que acerta na mouche, tem o ritmo certo e a letra é apelativa. O mesmo se pode dizer de “Ai a minha vida”. São hinos á juventude, são os anos da rebeldia e das incertezas. “Verão Frio”, é uma canção que aposta numa forte componente instrumental tão ao gosto das bandas de rock, tem algumas falhas, parece exagerado, nota-se que queriam mostrar as suas capacidades com a guitarra eléctrica e falharam, a letra é pobre e isso reflecte-se no conjunto. Em “salvação” noto a diferença. Remetem-me para canções de outros tempos. Os “back vocals” prolongam as estrofes e isso já não se ouve com tanta frequência como se pensa, muito menos em bandas tão recentes. “Sonhar com a música” é um tema poderoso e cheio de pica, que alinha com “ o meu lugar” que é outro cartão-de-visita destes picarotos (juventude da ilha do Pico). Só tenho duas sugestões, a primeira mais atenção as letras, algumas são imaturas em termos líricos. Em termos sonoros, era salutar a inclusão de mais instrumentos. Só espero que este grupo não morra na praia, dois membros originais da nova dinastia já abandonaram o projecto, mas a história da música está recheado destas peripécias, só espero que esta tenha um final feliz e que prossigam o sonho de fazer música.
A aura que há em nós
A associação Aura era o sonho de vida de uma mãe e um filho. Uma professora e um aluno. Uma doente e um cuidador. Era um projecto que visava ajudar jovens com dificuldades de aprendizagem, doentes oncológicos e daqueles que os cuidam. Agora é mais, muito mais. A Aura é do Luís, da Ana, da Manuela, do Agostinho e da Lídia e dos muitos mais que queiram participar. E do sonho nasceu uma obra altruísta que almeja um mundo melhor, onde todos possam aceder as mesmas oportunidades. Todos dias doam as suas capacidades, o seu tempo e o seu dinheiro para ajudar o próximo. Criam projectos musicais, encenam peças de teatros e realizam espectáculos com o intuito de provar que sempre se pode fazer melhor, realizar mais e ao mesmo tempo estimular a auto-estima nos jovens. Venha, doe o seu tempo, dê uma mão, ou compre um CD ou DVD da Aura, vai ver…tudo vale a pena quando a alma não é pequena. E a destes dois jovens não é! É o mundo!
Como surge o nome de Aura?
Luís França: A Aura era professora de alunos de currículos alternativos e era o nome da minha mãe. Eu fui o primeiro aluno.
Qual é o papel da associação junto dos mais jovens?
LF: O que fazemos com os miúdos dos currículos alternativos ao fim e ao cabo é encadear acções, que na escola são impossível de concretizar. Organizamos concertos, gravamo-los em CD e DVD. São eles que criam o guarda-roupa, os cenários e músicas e integramos no final ambas as partes, a parte musical e visual. Nós agarramos em tudo o que os miúdos estão a dar-nos na altura e fazemo-lo de forma diferente, se calhar o aluno tem dificuldade em inglês e o que fazemos? Escolhemos a letra de uma canção nessa língua para que a apresente num espectáculo. Ele está a estudar, só que não o sabe. Criamos produtos finais que são vendidos no mercado, são amadores no fundo, mas tão bons como os profissionais. A venda reverte para a associação poder dar continuidade ao projecto.
Qual tem sido o feedback por parte de educadores do vosso trabalho?
LF: Temos de professores que trabalham connosco junto destes jovens de currículos alternativos, na escola da Gonçalves Zarco, que ficaram no lugar da minha mãe, a Manuela, o Agostinho e a Lídia, que continuam o trabalho por ela encetado. Nós inserimos nos ensaios gerais tudo, o trabalho deles com os alunos e o nosso. Aquilo que nos dizem é que a única maneira de motivar os alunos a fazer algo durante horas, fazer aquilo que gostam, porque é diferente, até os educadores notam essa diferença. É distinto ensaiar para algo que vai ser gravado para um CD, para um espectáculo ao vivo, do que algo que na melhor das hipóteses vai ser mostrado na sala dos professores. O trabalho é a dobrar. Eles põem produtos cá fora que valem a pena.
A vertente oncológica é outro dos aspectos da associação, o que fazem nesta área?
LF: A Associação existe a um ano e meio a caminho de dois, chega a uma altura que nos perdemos no tempo. De inicio, doamos uma máquina de purificação de água para o hospital, para que os doentes o possam beber, para alimentação, o que for necessário. Já oferecemos cadeiras de rodas, medicação essencial para esses doentes que não é comparticipada. Agora, paramos um pouco porquê? Porque vamos aprendendo, queremos vender os produtos para fazer dinheiro suficiente para ajudar os familiares cuidadores destes doentes e o material de enfermagem que necessitam.
Complexo-universo paralelo
É a longa metragem mais vista no nosso país. É o trabalho documental dos irmãos Patrocínio de uma realidade paralela no microcosmos social e cultural que é a vida do complexo alemão, uma das maiores favelas do Brasil.
Porquê a escolha deste tema?
Mário Patrocínio: Nós costumamos dizer que fomos escolhidos. Estávamos a morar no Brasil, um dia um amigo ligou-nos para fazer um vídeo clip, num lugar chamado complexo alemão que era ajudar uma pessoa de lá que era o Mc Playboy. Não fazíamos ideia do que era o complexo alemão, o Rio de Janeiro que conhecíamos era o tropical, ou seja, o cartão postal dos turistas. Mas, pronto, entramos em contacto com aquela realidade e o facto de a música falar das coisas boas da favela, o que era o contrário a tudo daquilo que passava cá para fora. Abriram-se muitas portas, pela realidade, pelo tema, e fomo-nos apaixonando e fomos construindo o guião necessário para depois filmar.
Quais foram os preconceitos e estereótipos criados em torno da favela que caíram por terra depois dessa convivência diária?
Pedro Patrocínio: Os estereótipos e preconceitos são criados pela comunicação social, se não fores lá e conheceres, tu acabas por não teres opinião própria. Só podes comentar e falar quando tu estas e vives num lugar.
Mário Patrocínio: As pessoas acabam por se habituar devido as informações em massa que são emitidas pelos telejornais. As pessoas, as situações e aspectos em si desconhecem por completo. Estão a basear as suas opiniões única e exclusivamente na opinião dos outros, ou forma como aquela realidade é retratada. Para sabermos o que uma realidade é e não podemos lá ir, temos que nos informar o melhor possível e ouvir todas as partes. O facto de conhecer uma realidade como a que vivemos no Rio de Janeiro, era não só escutar as pessoas ricas, como quem lá morava. As pessoas ricas de lá e pobres de lá. E assim, acabas por encontrar todo o tipo de pessoas, estereótipos tu vês sempre, a forma como tu olhas é que muda a realidade, a perspectiva. Por isso, é importante que as pessoas não façam julgamentos precipitados em informação que é bombardeada, mas antes sequer de comentar a realidade devem informar-se e sobretudo interagir com as pessoas se isso for possível que são os representantes dessa comunidade.
Ficou alguma coisa por dizer no vosso documentário, que não tivessem tido possibilidade de abordar devido a falta de tempo, ou meios, ou outro?
MP: Um milhão de coisas. O filme é apenas uma opção, é um caminho que tu escolhes, mais do que um filme foi a experiência que ficou nas nossas memórias e no nosso coração e uma e mil histórias por contar, porque tens recursos limitados, tempo limitado e um objectivo concreto.
Quando tempo estiveram lá a filmar?
PP: Vinte dias a filmar.
Só?
MP: Três anos de pesquisa, vivência de ir até lá, comer lá, de ir beber a cervejinha com o tio, ir ao baile funk e aos eventos culturais. Esse convívio foi durante três anos, as filmagens foi só vinte dias porque não tínhamos dinheiro para mais, não tínhamos financiamento institucional, foi feito com o nosso dinheiro e a ajuda dos amigos. Em vinte dias concentramos tudo o que tínhamos aprendido nesses três anos.
Os bravos do cinema documental
Brava Dança é um documentário sobre uma banda pop-rock portuguesa, os Heróis do Mar. É o registo de uma era, da música e de um certo ambiente cosmopolita que se vivia no Portugal dos anos 80. É o olhar contemporâneo dos cineastas Jorge Pires e José F. Pinheiro sobre um período marcante em termos da história musical do nosso país.
Como surgiu o projecto do Brava dança?
Jorge Pires: Fui no final do século passado e fui um desafio que criamos para nós próprios de fazer um filme que ainda não tinha sido feito cá em Portugal e levou-nos seis anos a faze-lo. Queríamos fazer um filme que fosse digno, inteligente e que tivesse alguma coisa de sensato para mostrar as pessoas, basicamente foi isso.
Porquê demorou seis anos?
Jorge Pires: Ah! Isso é uma conversa mais longa! Mas para isso vou passar o gravador ao Zé Pinheiro e ele explica.
José Pinheiro: Levou esse tempo porque foi o tempo que levou a cozinhar, tem a ver com o facto de que na altura haveria um apoio financeiro, mas depois não houve, foi cancelado durante dois anos. Ganhamos, mais tarde, um subsídio e aí acabamos o filme, que aliás já o tínhamos começado.
Jorge Pires: Depois tivemos muitas dificuldades em obter imagens da banda.
Mas, eu recordo-me de ter visto várias entrevistas dos Heróis do Mar
Rui Pregal da Cunha: Sim, mas isso não dava para o filme.
Jorge Pires: Eram coisas de televisão. As perguntas eram sempre limitadas. Havia poucas imagens, básicas e rápidas, de circunstância, era a televisão dos anos 80.
José Pinheiro: Eles iam aos programas para encher os buracos. A música e a conversa é a forma mais barata de encher espaço na televisão.
Jorge Pires: Ninguém fala de música. Música feita por portugueses. Nós rapidamente enfrascamos coisas que vêm lá de fora. E a relativamente as pessoas que estão cá não ligamos nenhuma. Nós sofremos do mesmo problema, a falta de imagens de arquivo, falta de tradição de memória audiovisual e auditiva, falta de condições como é óbvio. Não havia muita gente a filmar.
Rui Pregal da Cunha: No entourage havia só duas ou três pessoas com câmara de vídeo.
Jorge Pires: Mas, ainda voltando a primeira pergunta, decidimos fazer um filme que era um desafio mais impossível na altura, porque era fazer um filme sobre uma banda que já não existia a dez anos, da qual não havia praticamente imagens e sobre a qual mais ninguém se tinha interessado. Parecia até que não tinha existido. E isso para nós era um desafio interessante.
Qual foi o feedback do documentário, porque há toda uma geração que cresceu com essa banda do rock português, porque até ali era tudo banal?
Rui Pregal da Cunha: Não creio que fosse banal, a música portuguesa ouvia-se, as pessoas compravam música portuguesa e estavam interessadas em música cantada em português. Por isso, não acho que os heróis tenham aparecido porque não havia nada. Não apareceu aos trambolhões, havia um certo interesse na música portuguesa. Não?
Uma transmontana no reino gelado da dinamarca

Isabel Tofte emigrou por amor, mas nunca esqueceu a sua maior paixão, o seu país. Ela montou uma empresa que vende vinhos e produtos made in Portugal, contrariando assim a nossa má imagem no exterior e promovendo o que de melhor sabemos fazer. Venha conhecer esta transmontana de gema.
Como surgiu o conceito da Vinport? o que te levou a criar este negócio?
O conceito da VinPort comecou a “borbulhar” na minha imaginação, logo na primeira visita à Dinamarca. Queria fazer um jantar à portuguesa e, claro não poderia faltar o nosso afamado néctar. Qual foi meu espanto quando fui ao supermercado, só havia duas referências portuguesas, e como podes imaginar, não era das que mais me orgulhava…..
Conheci o meu marido em Genebra numas férias, que deveriam ser de duas semanas, mas passaram a ser dois anos. Na Suíça, os produtos portugueses estão representados com força e quantidade em muitos sítios. Penso que, o facto de ser um país com muita emigração portuguesa, tenha ajudado. Daí o Lars (o meu marido) ter criado laços profundos com os nossos vinhos, gastronomia e cultura.
Em 2004 viemos viver definitivamente para a Dinamarca. Mas surgiu um problema, não sabia falar dinamarquês, o meu inglês era péssimo e ninguém me entendia em francês. Aprendi dinamarquês por força das circunstâncias.
Foi assim, com uma troca de ideias com uns amigos, numa esplanada em Østebro, chegamos ao nome VinPort , que provém de vinho, porta e está claro a ligação inevitável ao vinho do Porto.
Registamos a empresa dia 17 de Junho 2004, em Agosto tínhamos a primeira mercadoria. O logótipo foi-nos oferecido pela madrinha do Lars uma conceituada artista dinamarquesa Margrethe Kaas.
Foi fácil a aceitação de produtos portugueses, nomeadamente vinhos? os dinamarqueses estavam minimamente familiarizados com este e outro tipo de produtos portugueses?
Na generalidade, o consumidor típico dinamarquês é muito conservador. Por isso, podes imaginar que não foi fácil superar essas barreiras. Os dinamarqueses mais velhos, têm ainda a triste lembrança do escândalo das “garrafeiras” do Dão. Nos anos 70 cerca de 65% dos vinhos importados para a Dinamarca eram portugueses, agora com sorte conseguimos chegar aos 2 % da quota do mercado.
Tem sido um trabalho duro, a divulgação, a aceitação demoram o seu tempo a criar hábitos.Quando se perguntava há sete anos, o que eles sabiam de Portugal, respondiam; bacalhau, vinho do Porto e fado, mas nem sempre de uma forma positiva.. Diria mesmo que o diziam com desprezo e ironia. O que claro me revoltava, cheguei ao ponto de não dar amostras, nem de vender vinho, por desrespeitarem o meu trabalho.
O vinho do Porto, ao contrário do vinho de consumo tem uma aceitação fantástica! Imagina que cresceu 98% entre 2009 e 2010. 3,7% das exportações de vinho do Porto vêm para cá, o que põe a Dinamarca no nono lugar, à frente do Brasil que tem uma ligação directa com Portugal e que também é num continente, comparado com este pais de cinco milhões de habitantes.
Actualmente as vendas de azeite têm duplicado, os dinamarqueses estão mais sensibilizados, começam a utilizar na preparação dos seus pratos, mais azeite e menos manteigas, ou outro tipo de gorduras.Como viajam mais, estão a começar a ver a nossa cultura mais exótica e atraente. Aqui acho que o facto de Portugal ter ganho vários prémios internacionais de turismo tenha ajudado, nesta sensibilização.
Quando decidistes promover produtos portugueses tiveste algum apoio por parte das autoridades portuguesas?
Achas? Agora fora de brincadeiras, a que tipo de apoio te estás a referir? Apoios monetários, promocionais? Se é apoio pelas autoridades competentes, tipo Aicep, não tivemos qualquer tipo de apoio, somente convite para participar na prova anual de vinhos… Quanto à embaixada, tem tentado ajudar-nos na parte cultural, ou seja se há fado, cinema, exposições tentam lá ter os nossos vinhos. Agradecemos imensamente aos responsáveis pela cultura da Embaixada. Relativamente ao Senhor Embaixador, enviamos-lhe a informação dos eventos existentes e nos quais participamos.O apoio que tenho sentido é da parte da Viniportugal, embora seja uma instituição, sem fins lucrativos, tem-se esforçado em promover e divulgar os nossos vinhos. Enviam regularmente brindes, revistas e brochuras.O melhor de todos é dos nossos produtores e fornecedores, que nos apoiam incondicionalmente nesta luta.
Foi difícil criar um negócio de raíz num país estrangeiro?
A criação da empresa não teve qualquer tipo de complicações. Bastou-nos ir a um estabelecimento de finanças mais próximo e registar! Tão simples quanto isto! Só necessitamos de levar os nossos documentos pessoais de identificação. Fiquei na realidade, chocada, habituada às burocracias portuguesas…
Drunken sailors & happy pirates

São as reminiscências de uma música que se julgava perdida no tempo.
O título diz tudo. Ao ouvir a música deste álbum dos Jigsaw, vêm-nos á memória as amizades espontâneas entre estranhos, as cumplicidades dos olhares e as noites boémias perdidas na espuma no mar. Aliás, há uma influência propositadamente soturna que é audível em todo o disco. A melancolia da voz cavernosa de João Rui remete-nos para mundos paralelos, feitos de sombras e de pensamentos tão profundos e frios como o oceano. “Strangest friend” é uma travessia, a sua sonoridade remete-nos para um Nick Cave, ou um Tom Waits e o seu estilo muito próprio de conduzir as palavras. “I’ve been away for so long” é outro das perolas deste álbum que transporta-nos para um mundo de partidas e chegadas, de vindas e de voltas, sem um final anunciado. É uma viagem sonora, é um retorno as origens da música country. Há melodias que nos aquecem o coração e inspiram a alma neste trabalho discográfico. A canção que dá título ao álbum é uma busca pelo nosso próprio horizonte, como diz o vocalista. The “last waltz “ e o tema “even you” são uma homenagem a energias avassaladora da cidade de Roma. “No more” e o “devil on my trail”, por outro lado, são música negras, repletas de espiritos malignos que se transformam em palavras. “My name is Drake” fala de Sir Francis Drake, um famoso marinheiro e corsário. “Roftop joe” é outras das personagens que povoam este CD, se são histórias verossímeis ou não, não importa, o primordial é o caminho que percorremos por estas doze canções, desta banda de Coimbra, que nem parece portuguesa.
Um sério malandro da comédia portuguesa
Ele não se considera um comediante à séria, mas faz comédia. Ele não se considera cantor, mas diz que canta tão bem como a Cesária Évora. Ele não é muito observador, mas transforma o que vê em piadas. Ele diz que não é jornalista, mas escreve artigos. Ele gostar mesmo, gosta de falar sobre sexo, mas… Ele é o António Raminhos um parvo que fala com muita graça sobre coisas sérias.
Qual é a génese deste espectáculo? Eu sei que vais falar de coisas parvas.
António Raminhos: (risos) Os temas não são parvos, eu é que sou. Eu é que eu acabo por transforma-los, porque é o tipo de humor que faço. Não faço humor de observação, transformo as situações em algo irreal, pouco lógicas. O espectáculo é todo um pouco assim, a ideia é abordar vários temas, um pouco de tudo. Farmácias, a igreja, a irmã Lúcia, a internet, o facebook, essas coisas todas que não resultam da observação, mas sim de eu pensar em coisas parvas, como por exemplo, eu tenho uma emprega de limpeza e se ela fosse anã como é que ela ia limpar lá em cima nos móveis? Esse tipo de coisas. Acaba por cair no ridículo e às vezes são tão parva as associações que as pessoas riem-se da parvoíce da situação.
É o teu primeiro espectáculo?
É o meu primeiro a solo. Eu só faço coisas minhas, escrevo tudo sozinho. O stand up caracteriza-se muito por isso, a maior parte que representa também escreve. Também há casos em que se escreve para outros representarem, mas tudo o que eu faço é idealizado por mim. Basicamente são todas minhas e muitas surgem no palco.
Então há espaço para o improviso?
Sim, se a coisa estiver a correr bem. Geralmente, há. Principalmente com as casas cheias, a pessoa sente-se motivada e acaba sempre por acrescentar mais parvoíces a aquelas que já leva consigo. Ainda por cima, neste espectáculo há um welcome drink, as pessoas quando entrarem vão ter um wiskizinho, vão mais animadas, eu próprio em palco vou beber, portanto eu próprio não sei o que vai acontecer.
Estilo Cesária Évora?
Sim, mas não canto tão bem, ou se calhar até canto. Quando ela já esta a meio do espectáculo ficamos os dois parecidos.
Há algum tema tabu, um que tenhas um certo receio de abordar por causa da reacção do público?
Não, há temas que não toco, porque simplesmente não me lembrei de nada. Existe um que é mais susceptível junto do público que é a Igreja. Lembro-me da última vez que vim cá, já não me recordo se foi em 2008 ou 2009, em que fiz um texto sobre Jesus Cristo em que dizia que ele era gay. A primeira reacção das pessoas foi iiiiifffffff. A sala de repente fica muito, muito fria e aí tenho que chamar logo à atenção, calma, vocês tem que acompanhar o meu raciocínio e depois no fim vai sair parvoíce e as pessoas acabam por aderir. Lá está, desmistifico, não estou a ofender, Até porque sou católico, dei catequese e tudo. Portanto, não estou para ofender credos, nem estratos sociais, nem nada do género. Estou apenas para brincar com as situações.
Vivências filmadas
Catarina Mourão pertence a uma nova vaga de cineastas que fazem do documentário uma forma de arte. Filma o quotidiano dos outros, torna-se invisível, deixando, contudo, um cunho muito pessoal na sua cinematografia. O seu último trabalho sobre Lurdes Castro reflecte essa intimidade, essa confiança mútua que transparece no ecrã.
Fale-me um pouco do seu primeiro documentário, a dama de Shandor.
O Dama de Shandor não foi o meu primeiro documentário, o primeiro que fiz foi em 1997 que é “Fora de água” e que é um filme que acompanha vários artistas pelo Alentejo para fazer arte pública, que vão desenvolver vários projectos sobre a seca e o isolamento e o filme conta-nos um pouco esse dialogo com a população. A seguir veio a Dama de Shandor, na verdade quando estava a rodar esse filme já tinha ido a Goa em pesquisa para esse documentário. Na altura tinha acabado de fazer o meu mestrado em cinema e tinha ido a Índia como turista e conheci aquela senhora, a Dama Shandor, a Aida Menezes de Bragança, e achei que era uma personalidade interessante, sobretudo, porque a vida dela e o quotidiano na casa reflectiam o que era Goa para mim naquele momento, que era um sítio com muitas contradições em que o passado e o presente convivem.
À flor da pele, porque a escolha deste tema?
Os filmes acontecem por influência das vivências que temos e com a forma como faço cinema. Na flor da pele surge na sequência de um filme que fiz no Porto, que é o desassossego. É um tríptico da cidade. O documentário nasce de um convite que me fizeram para desenvolver um filme num bairro social do Porto. E é assim que nasce o “ Á Flor da pele”, embora na altura não houvesse dinheiro para fazer era mais para me balançar no sentido de realiza-lo e acho que estou sempre a procura do mesmo, apesar de os filmes serem todos diferentes.
Nessa categoria insere a mãe e filha?
Esse sim é um filme completamente diferente. “Mãe e filha” é uma curta-metragem que se insere num outro filme, esse sim um trabalho que fiz para a televisão, que era a mediação de conflitos. O filme é sobre uma mãe e uma filha que tem um conflito familiar e que o resolvem através de uma mediação. E o que é engraçado no filme é que é uma simulação, é um exercício porque ambas estão a treinar para serem mediadoras. E para mim fui um muito engraçado faze-lo porque, brinca com o que é o documentário e o que é a ficção.
E o da Lurdes Castro?
O filme da Lurdes Castro é contemporâneo do meu primeiro filme “Fora de água”. Depois de ter estudado cinema foi o primeiro projecto em que comecei a pensar. Se bem que já tivesse ido a Índia fazer a minha primeira rodagem. Por isso, até há quem veja paralelos entre a Dama de Shandor e a Lurdes. Existem semelhanças óbvias, são mulheres com um determinado percurso de vida e vivem na sua casa, claro que é diferente em cada história, mas há uma relação muito forte com o espaço. Se bem que o filme com a Lurdes demorou mais tempo e acrescentou muitas outras coisas na produção do meu trabalho.
Raquel, a dama de aço
Se há ditado que se encaixa na perfeição a Raquel Ochoa é as aparências enganam. Ela pode ser baixinha, frágil até, mas desenganem-se, a mulher é de aço. Ela viaja, muitas vezes sozinha, conquistando os picos do mundo, sem medos.
Como aparece essa necessidade de partir pelo mundo, ainda mais uma mulher?
Eu não sei se é assim tão inusual, para mim comecei a viajar aos 16 anos e fiz a minha primeira viagem intercontinental. A primeira vez que sai da Europa, foi com 21, foi para a Índia. E desde muito cedo descobri…Contado desta forma, quando fui para a índia no primeiro ano, voltei logo no segundo, e fui em 2001 e voltei em 2002. Depois aconteceu-me uma coisa andava um bocadinho perdida nos estudos, estava a formar-me em direito e fui o único ano em que chumbei na vida. E fui dizer ao meu pai, um bocadinho constrangida, claro, é um insucesso não é um sucesso, e ele disse-me uma coisa curiosa: tu quando fostes para a Índia tirastes um outro curso. Ou seja, muito depressa apercebi-me que as viagens era um acumular de experiências e conhecimentos em doses enormíssimas e a minha sede de conhecimento que muitas pessoas associam ao estudar ou a ler, para mim juntamente com uma carga de adrenalina tão grande era a vida perfeita. Tornou-se rapidamente num vício e todo o dinheiro que tive e muitas vezes digo isto gastei em viagens. Fiz algumas, falta-me conhecer meio mundo ou muito mais, mas foi sempre nesse sentido, e de facto o viajar faz-me crescer como pessoa.
Eu já reparei que andas pelos tectos do mundo…
Eu gosto muito de montanhas. Eu tenho um fascínio por elas.
E não tens qualquer tipo de dificuldade física, ou limitações devido as altitudes?
Não tenho, quer dizer a altitude mais alta que estive foi no campo-base do Everest em Kala Phattar que é 5545 metros de altitude, foi o mais alto que estive. Esta foi uma provação. Foi um desafio e prova superada. Mas, não foi fácil. Foram 21 dias de trekking, 17 dias a subir, cinco dias a descer, mas eu faço desporto. Um dos prazeres da minha vida é que prático desportos e as montanhas para mim são meu ideal de viagem, porque como moro relativamente próxima do mar, gosto muito de mar, tenho esta relação anímica com ele, o meu ideal de viagens é o oposto, a montanha. É o subir, subir grandes cadeias montanhosas. Já estive nos Himalaias, em dois sítios o Annapurna e o Maciço do Everest. Estive nos Andes, subi até o Machu Picchu também em caminhada e ao Atlas. Portanto eu neste momento quero ir imenso aos Alpes, ao Kilimanjaro. Há tanta montanha interessante para ver, felizmente tenho esta sede aplacada de montanhas. Estou sossegada e quero voltar a estes sítios também porque o que se vê ali é a força da natureza. Os Himalaias então…
Defines-te como uma pessoa solitária? Um viajante acaba por ser um observador privilegiado do que não é o seu, de uma cultura que também não é sua, de uma língua que muitas das vezes não domina. Não é em si acto solitário?
Eu não sou uma pessoa solitária, mas dou-me muito bem com a minha solidão. E é por não ser uma pessoa solitária que faço facilmente amizades, e conheço pessoas interessantes e acabo por partilhar com elas várias horas, vários dias e etapas das viagens. Se eu fosse uma pessoa solitária não tinha esta facilidade de me abrir ao outro e de conseguir criar amizades em viagem que é algo que faço com alguma facilidade e tenho tido a sorte de encontrar pessoas que até ficam para vida. Mas, dou-me bem com a minha solidão, e se por acaso não conheço ninguém, se por acaso não há empatia por outro ser humano, gosto muito do ser humano que eu sou. E por isso dou-me bem comigo. E gosto de ler, e uma pessoa quando lê não está sozinha.
As várias dimensões do contemporâneo

Paulo David formula a arquitectura como um todo físico e pessoal que tem de ser alvo de contemplação e maturação. Um exercício por vezes difícil num mundo cada mais caótico, desumanizado e que se esquece do cerne de tudo, o homem na sua dimensão espacial e emocional.
É evidente a conotação das obras com as características geológicas da ilha, pelas grandes massas, pelos edifícios “fortaleza” moldados na rocha. No processo criativo de fazer arquitectura pode tornar-se um limite ou é sempre um desafio?
Paulo David: Pode ser uma coisa conjunta, isto é, pode ser uma limitação e simultaneamente um desafio que é o que torna o trabalho interessante e entusiasmante aliás. É uma condição com a qual temos que trabalhar como outra qualquer. Como temos que trabalhar com o suporte económico, como com o programa. A geologia é mais um combate a fazer que em alguns casos se torna uma forma de experiência e de motivação para realizar o próprio trabalho. Quase na génese do próprio edifício por vezes.
Disse-me que achava que o edifício da Casa das Mudas era hipócrita, porque não era feito em pedra, mas imitava…
Isso veio na sequencia de uma conversa de Souto Moura em que falava que o pai creio leccionava e que ensinava que a questão da hipocrisia. E tinha achado interessante o à vontade que é bastante conhecido no Eduardo e na forma de o fazer. Nestas palavras dele que, é bastante revelador e que desmancha muito os eventuais preconceitos que possam ter sobre o próprio arquitecto. Achei bastante entusiasmante. E que hoje em dia a arquitectura suporta muito essa questão da hipocrisia porque não constrói com a autenticidade com a relação tradicional que tínhamos sobre a matéria e sobre os materiais. E assume assim, alguns caso de placagens que é caso da Casa das Mudas, que não é pedra é um revestimento assumidamente com uma intenção textural e simultaneamente quase uma espécie de relação com a própria montanha e com o estriado das montanhas que de certa forma são humanizadas através das estruturas que os homens foram fazendo ao longo dos tempos, que é o caso dos socalcos. E aquelas estrias que o próprio desenho que a Casa das Mudas impõe é muito isso, é destas linhas que o nosso território tem nestas sequências de coreografias de linhas que são os socalcos que suportam estruturas agrícolas e edificadas que é o caso deste edifício. A pedra é mais um suporte no contexto.
Mas a arquitectura deve inserir-se totalmente na natureza é esse o objectivo final?
Neste caso foi. O Paulo Mendes da Rocha diz uma coisa que é a primeira das estruturas é a geografia. E aí começa logo a arquitectura. É onde começa essa relação sempre entre a natureza e o artifício. E tem sido essa a atitude exploratória do ateliê. Esta paisagem é intensa e temos uma relação com a natureza muito forte. Faço o exercício da contemplação desde muito pequeno. Eu tenho memória dos cinco, seis anos de visitar miradouros na ilha com os meus pais que me ensinaram desde muito cedo a contemplar. Levou-me a esta relação e este impacto com a natureza.
Quando aborda a sua arquitectura tendo em conta esse impacto e tendo que ter em consideração o que o cliente pretende como conjuga esses dois factores? O que eles pretendem e o que considera adequado para aquela orografia, para aquela zona e a sua dimensão.
É muito, muito raro. Tenho pouco controlo sobre isso. É muito raro que os clientes tenham um estudo profundo do programa. Á partida não há um investimento no programa. O que há é uma ideia do que se quer, daquilo que ser quer gastar, mas não há um aprofundamento. E isso vê-se de forma muito alargada em muitos dos casos, o não investimento no programa pode-se gerir. É curioso sentir que por vezes as obras são estimadas num determinado valor e depois tem um valor completamente oposto na sua conclusão. Uma das causas é essa ausência de investimento. As pessoas só se vão apercebendo, só vão maturando no programa após a obra estar concluída. O que torna por vezes difícil de responder com eficácia nos próprios edifícios. E o programa é uma componente da arquitectura e ela deve estar na preocupação dos arquitectos com um grande investimento, para além de outros efeitos. E a arquitectura transporta isso.
Actualmente no projecto que tem em mãos tem equacionado o impacto da felicidade num edifico. Trata-se de uma questão que nem sequer se aborda muito na arquitectura. Porque equaciona essa dimensão para um centro de apoio a terceira idade?
Foi de um livro que me comoveu muito que é do Valter Hugo Mãe que é a “máquina de fazer espanhóis” que aborda muito este tema. É o tema da felicidade e da terceira idade. É um tema fortíssimo e que espelha a nossa sociedade, como lidamos, como gerimos e como estamos disponíveis para gerir o prolongamento, a longevidade que as pessoas merecem ter. Ou daqueles que tiveram a felicidade de a ter. E como se desenha o nosso grande spectrum da coisa e como vamos fazer isso tudo embrulhados num pujar de legislação que é perfeitamente desconexa com a sociedade. E como vamos conseguir tudo isso entre as exigências funcionais que são entendíveis e compreensíveis, a legislação que é muito forte nesta matéria e as pessoas que vão lá viver. O ideal de um edifício desses seria o prolongamento da nossa continuidade com essas pessoas, com as da terceira idade. Possivelmente a nossa incapacidade de manter ou oferecer uns cuidados intensivos, ou à atenção desejada leva-nos a criar esses edifícios. Eles deviam ser um prolongamento do lar, da casa.
Mas, como isso se traduz em arquitectura? Uma área onde possam estar rodeados com os objectos do seu quotidiano é isso?
Exactamente. Para já poderem transportar as suas memórias e poderem estar familiarizadas com as espacialidades. É comum no nosso território que uma pessoa de idade hoje viva numa moradia. Eu vou transportar alguém de uma moradia para um edifício de dois a quatro pisos e com elevador, com rampas e com escadas que é tudo o que ela não fez. E como vou contrariar tudo isso? As exigências programáticas, a legislação e o estar a habitar. Portanto, para que ela não pense, e foi curiosa a visita que fizemos a um lar, uma dessas senhoras disse que isto é uma cadeia. A cadeia neste caso, é um distanciamento de tudo o que lhe era familiar e não propriamente do edifício onde se sente fisicamente prisioneira, do prédio e do próprio sistema de cuidados que ela paga, mas que perdeu no fundo. Como é que o arquitecto tem de desenhar isto? Estou mais preocupado com estas relações, nestas tais naturezas. No fundo é uma continuação de naturezas, o que me interessa é a continuação de paisagens físicas, pessoais e como as podemos desenhar. O arquitecto é cada vez mais assim, e a crise esta a ensinar-nos isto. Os arquitectos optaram por exercícios de grande exuberância e envergadura nos edifícios e estes facilmente distanciaram-se das pessoas, do homem. Há um espírito que o homem tem que retomar que é desenhar para o homem e como é que ele é hoje? E como vai ser o homem do amanhã? É também este um dos desafios da arquitectura.
E essa visão aplica-se ao nível nacional?
Sim. E vou falar do Japão, hoje a arquitectura que se prática neste país foi pelas fortíssimas correntes de crises económicas que o país teve. O Japão é hoje um teatro de experiências intenso devido a crise e as doutrinas que foram quebradas. E daí surgiu a maior liberdade possível no espaço físico.
Então concorda com a declaração de Souto Moura relativamente ao desaparecimento dos grandes nomes na arquitectura?
Eu penso que essa procura de uma arquitectura espectáculo que tem algumas dificuldades em investi-la penso que são deslocadas face a nossa situação económica.
Mas, esta a falar do caso de Portugal ou ao nível mundial?
Não, não mundial. Acho que Portugal não esta sozinho neste processo de atravessamento de repensar a sua estrutura e o seu modelo económico. A Europa toda. E alguns países não podem cair nesse sistema. É possível estruturar-se e repensar-se, possivelmente irão quebrar-se memórias. Como caíram no Japão, a sua estrutura física não é feita por uma memória evidente, por uma identidade. Ela é muito curta tem a ver com a nossa reflexão do ocidente e as relações efémeras. E com uma capacidade de transformação e de mudança muito grande, muito tolerante e visível. Isso torna-a bastante interessante.
Podcast
Eventos
-
MMI- Reabertura de aquário dos bacalhaus
17-09-2016
O Museu Marítimo de Ílhavo reabre o Aquário dos Bacalhaus, depois de um período de obras de...
-
Cineteatro louletano- Programa Dezembro
 12-02-2016
12-02-2016
No dia 15, sexta-feira, às 21h00, há uma estreia que resulta de uma coprodução entre o Cineteatro...
-
Teatro Baltazar Dias-Programa Dezembro
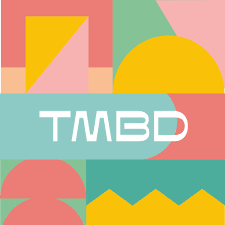 12-09-2015
12-09-2015
O último programa do ano que encerra como sempre com música... Feliz ano novo 2025...
-
CCVF e CIAJG- Concertos e Guidance
 06-06-2015
06-06-2015
A Oficina desvenda os primeiros dois concertos de 2025, a 18 de janeiro e 26 de fevereiro, no Centro...











