Yvette Vieira
Henrique, o semeador


Dançando com a diferença nasceu de um sonho que foi criar um grupo de dança contemporâneo com pessoas com e sem deficiência. Um trabalho pioneiro em Portugal, que ao longo dos anos venceu as barreiras do anonimato, da insularidade e do preconceito. Na frente desta batalha contra a discriminação, esteve um homem, brasileiro, Henrique Amoedo, o visionário, o coreografo, director artístico e dançarino do grupo de dançando com a diferença.
Qual é o balanço que faz dos 11 anos de existência de dançando com a diferença?
Henrique Amoedo: É um balanço super positivo, aqui na Madeira. Quando começámos este projecto, estávamos vinculados à direcção regional de educação especial e reabilitação, foi uma aposta nossa implementar essa actividade cá e em Portugal continental. Eram poucos os grupos que faziam dança com deficientes. Eram projectos muito restritos, ou seja, eram actividades dentro das instituições, como por exemplo, espectáculos para marcar o fim do ano lectivo. Não havia esse tipo de referência que extrapolava para um universo artístico, o estar em palco e em festivais. Por isso, este percurso é muito bom, não só por tudo aquilo que tem sido feito, mas porque, somos uma referência para outros grupos, servimos como modelo e inspiração. Isso só demonstra que o nosso trabalho cresce e outros trabalhos surgem a partir disso.
Nas inúmeras entrevistas que realizou, refere a importância de profissionalização do grupo. Esse objectivo já foi conseguido?
HA: Esta a caminho. Esta muito próximo. Este ano vamos fazer um teste nesse sentido, vamos tentar. Passámos a funcionar com dois núcleos de bailarinos.
São o júnior e o sénior?
HA: Não esses e mais o grupo 2 são a base. No próprio grupo principal, vamos ter dois núcleos diferentes. No pré-profissional estão inseridas as pessoas que já faziam parte do elenco, mas que na sua grande maioria tem outra profissão e não sentem segurança suficiente para deixar a sua actividade profissional e dedicar-se apenas a dança. Até porque é uma incógnita para nós e acho que fazem bem. Os restantes, são pessoas que estão dispostas a trabalhar a tempo interior, porque não tem uma actividade definida em termos profissionais, esses são os profissionais do grupo.
Acha que neste período de 11 anos o preconceito em relação a um grupo de dança com pessoas diferentes mudou?
HA: Mudou e muito.
O pensador
Yoshikazu Suematsu é um especialista proeminente no estudo da arte dos Karakuri transportado para a nova era da robótica nas empresas com tecnologia de ponta, que transformou o Japão numa das super potências económicas mundiais. É um dos académicos de renome do Instituto de Tecnologia de Aishi e docente honorário na Universidade de Nagoya.
Em que contexto histórico e social aparecem os karakuri e porquê?
Yoshikazu Suematsu: No Japão existe uma grande tradição que sãos os festivais. Há um em quase todas as zonas do país. Em todos é exibido muito estes tipos de bonecos mecânicos para entreter a multidão. Podemos dizer que eles são uma espécie de robôs de madeira. Os japoneses têm uma fascinação, uma admiração e um gosto enorme por estes bonecos, quer sejam de madeira, ou os mais actuais. Desde as crianças até aos adultos, no Japão há grande estima por estes “robôs”, um sentimento que pode ser definido, como carinho por um membro da família. Este tipo de cultura japonesa ajudou a desenvolver nas fábricas o conceito da robótica, porque daí provém a tradição de fazer mecanismos para facilitar o trabalho.
Os bonecos representaram apenas os heróis japoneses?
YS: Tem muitos géneros. Podem ser heróis, mas também há personagens que são retiradas dos contos infantis japoneses, de teatro Kabuki , ou das marionetas. São vários os elementos utilizados.
A juventude japonesa ainda valoriza estes Karakuri?
YS: Eu penso que sim, são cerca de 80 os festivais onde são exibidos este tipo de bonecos mecânicos. Os jovens continuam a estimar este tipo de arte. Nestes últimos dez anos, há um movimento nas fábricas japonesas que utiliza este tipo de mecanismos, aprende através dos bonecos mecânicos para implementar nas empresas. Nós chamamos Kaizen, são melhorias contínuas nas fábricas.
Como é feito esse processo?
YS: Foi um jovem que criou um mecanismo para transportar carga de um ponto ao outro da fábrica, sem gastar qualquer tipo de energia. O peso do objecto é que movimenta as rodas (na imagem). A ideia surgiu-lhe a partir de um boneco de chá que viu quando era criança.
Os itinerantes
Começou por ser um circo. Cresceu, desenvolveu-se e transformou-se num teatro híbrido. Um universo poético, emotivo, sensorial e narrativo, sem palavras proferidas, onde se cruzam as artes visuais, a música, a dança e as imagens em espaços não convencionais. Damas e cavalheiros, meninos e meninas, bem-vindos ao maior espectáculo do mundo, o circolando.
O que esteve génese do circolando?
André Braga: Foi no final de 1999. Era sobretudo a vontade de criar outros mundos, de inventar universos poéticos. Precisámos para sair da vida quotidiana, enriquecer o pensamento e as emoções.
Mas, porque, o conceito de teatro não era suficiente?
AB: Nós nem sequer éramos do teatro quando tudo começou. Os primeiros actores não provinham dessa área, houve um cruzamento com o circo, que cada vez está mais longe, mas no inicio havia esse sentido de comunidade, de amparar a criança e o velho, foi um ambiente que sempre nos fascinou, esse estar em festa.
Desde 1999 até 2011, o que mudou no circolando? Qual foi a evolução do grupo desde essa data até agora?
AB: Foi um processo muito auto-didacta, foi sempre fazendo e aprendendo. Existe outra experiência, em paralelo, fomos encontrando outros caminhos, outras linguagens. É um formato híbrido, de teatro dançado e de imagens. A ideia do circo foi perdendo espaço, interessa-nos mais essa transmissibilidade e o cruzamento das linguagens quer da música, das artes visuais e do cinema.
Vocês cruzam todas essas componentes?
AB: Todas não, às vezes. É um forte trabalho de imagem e das artes visuais, do teatro e da dança.
O homem dos sete ofícios

Define-se como um actor que pisa os palcos, por prazer. Por vocação. Por gosto. Para respirar. A sua personalidade não se esgota, contudo nessa palavra. Uma das suas outras facetas é o de argumentista, de professor e até de advogado. É um homem de corpo inteiro que dispensa apresentações. Senhoras e senhores, António José Bastos de Oliveira Martinho.
Este ano estreou duas peças de teatro, porque este retorno aos palcos?
Tozé Martinho: Faço teatro há sete anos, nunca parei. É o que eu gosto mais de fazer. O que me paga mais é escrever novelas e argumentos, mas estar nos palcos é algo que me dá muito prazer e eu não prescindo. Sou essencialmente actor, sou também advogado e professor, mas aquilo que gosto mais de fazer é representar.
Tendo estado na génese da criação de séries e telenovelas nos últimos anos, como vê a evolução do actual panorama televisivo para este tipo de formatos?
TM: Penso que é um caminho lento, que começou bem e que tem encontrado alguns avanços e por vezes recuos, porque, às vezes o caminho trilhado não foi o melhor.
Fala da sucessão de caras novas que vemos em algumas séries e que pouco tempo depois desaparecem dos ecrãs?
TM: São actores e actrizes que não estavam devidamente preparados e que não se percebe como é que, estes jovens não foram criteriosamente escolhidos. Nos guiões, há avanços e recuos e até se verifica esse fenómeno com o mesmo guionista. Houve escolhas mal feitas.
Em termos de casting?
TM: Não, não. Em termos gerais, quer técnicos e actores. Houve realizadores com grande talento, que não foram devidamente acarinhados e acabaram por dar lugar a outros que não estavam tão bem preparados.
O grande pedro

Ele é bom rapaz, um pouco estouvado é certo. É consultor da Boole Sheat & associados, mas isso não faz dele, um profissional sério, muito pelo contrário, a ideia é faze-lo rir até as lágrimas. Ele acima de tudo é um enorme talento da comédia made in em Portugal.
A comédia é necessária?
Pedro Miguel Ribeiro: Tenho a noção que as pessoas gostam de rir, que os portugueses precisam de rir, particularmente nesta altura, os madeirenses. O riso é sempre importante. Numa altura de crise que atravessámos todos nós, o riso, acho eu, chega a ser una necessidade fisiológica, como comer, beber e respirar.
É por esse motivo que decidistes fazer o ao vivo e a soro 4?
PMR: Decidi fazer este quarto desde o sucesso do ao vivo e a soro 3. Senti que as pessoas tinham gostado muito. Fizeram-me repor a peça na altura, devido ao entusiasmo do público e deu-me a impressão que seria importante fazer mais um. Já me dedico a fazer teatro aqui, a cerca de 10 anos. Gosto de vir ao Funchal, à Calheta e já me dediquei a fazer digressões com o Nuno Morna um pouco por toda a ilha. Gosto deste público. Planei isto com muita antecedência.
És tu que escreves os teus próprios textos?
PMR: Sim, quando faço espectáculos a solo, sou eu que os escrevo. Em parceria com a produtora com.tema aí já somos mais a escrever. Ao vivo e a soro 4 vai estrear no furacão das notícias que é a dívida da Madeira e acabou por ser oportuno porque a peça, aborda esses temas de forma saudável, para rir-se deles, porque não há melhor forma de enfrentar as dificuldades do que rir-se delas e de facto acho que é oportuno que apareça, porque mais do que nunca as pessoas precisam de rir-se para os enfrentar.
Este é o quarto espectáculo, mas voltando ao primeiro, fui difícil enfrentar o palco sozinho?
PMR: Sim, foi. É sempre difícil. Eu costumo dizer que já fiz 500 actuações de stand up comedy e não é presunção, houve nas quinhentas, 3ou 4 que correram mal. Eu passo a vida a pensar nas que correram mal e não nas 496 que correram bem.
Viver a música
Vânia Fernandes tem um grande amor que é a música. Vive para cantar em palco. Ela alimenta também um sonho que é o de valorizar os músicos do seu país. Ela tem uma paixão, passar aos outros, todo o pouco que sabe e que já aprendeu.
Depois de ter ganho a operação triunfo, em que este concurso contribuiu para a tua carreira?
Vânia Fernandes: Não foi tanto pela quantidade de actuações, porque essa experiência já tinha e a sorte de actuar todas as noites na Madeira, felizmente é uma tradição que ainda se mantém, mas que aos poucos vai-se perdendo. Sou uma filha dessa geração que cantava nos hotéis e nos bares e aprendi muito com isso, o de cantar todas as noites. O que mais estranhei na operação triunfo depois de ter ganho o concurso, devido a limitações contratuais, não podia faze-lo todas as noites e em qualquer local, o que era natural, tenha a haver um certo som e um espectáculo em grande. Houve uma aposta na qualidade das actuações. Depois há o reconhecimento do público que foi maravilhoso. Tive oportunidade de pisar grandes palcos, estar em cartaz com outros grandes artistas que de outra forma infelizmente, não estaria. É o caso do festival do jazz. Costumo dizer que foi necessário ganhar a operação triunfo para estar no palco principal. Uma pessoa está sempre a evoluir, continuo a estudar como o fazia a cinco anos atrás, mas em termos imediato, não me tornei por isso melhor cantora. Tenho que trabalhar. O mediatismo da televisão permite-nos aparecer de repente na casa de todas as pessoas, é a melhor publicidade que se pode ter e só me sinto grata por isso.
Houve algum aspecto menos bom desta experiência? A promoção do CD, por exemplo.
VF: Não. Claro que esperava outra coisa, não da parte da Endemol. O disco é um produto da operação triunfo. A produtora tem sido muito prestável e são pessoas maravilhosas. Esperava que alguém pega-se no projecto, que não fosse tão difícil vender nas lojas de discos. É tudo uma burocracia tal, que só se perde tempo. Não pensei que fosse tão difícil conseguir um manager. Sempre pensei que depois de o produto estar pronto, que seria mais fácil. Mas, não. Revelou-se mais difícil do que esperava.
Mas, o álbum era a tua cara, ou não?
VF: Sim, era. Era tudo o que tinha sonhado. Eles deram-me essa liberdade de fazer o que eu quisesse. Eu tinha uma utopia, queria um álbum com vários estilos musicais e não apenas para um certo tipo de pessoas, que não fosse elitista, queria que fosse para toda a gente. A música tinha que ser acessível a todos, não fiz um disco para músicos, mas para as pessoas em geral e como forma de agradecimento pelo apoio que me deram. Acho que sim, foi tudo em português. Tem samba, morna e fado. Não é abstracto.
As rádios ajudaram nesse processo?
VF: Na madeira sim. Cá sempre me ajudaram. Desde o governo aos privados. Mesmo antes da operação triunfo, atenção. Era conhecida nos circuitos dos hotéis e dos bares. As pessoas sempre me respeitaram. Mesmo quando ainda só dispunha do master, fui a todas as rádios e elas começaram a passar de imediato.
Professor e o perigo
Domingos Rodrigues, professor de geologia da universidade da Madeira, estuda o risco associado as catástrofes naturais. Um fenómeno que podia ser mitigado, se houvesse uma clara aposta na prevenção através das escolas.
Como é que se fazemos o encontro entre o desenvolvimento urbano e os riscos geológicos?
Domingos Rodrigues: Hoje temos uma qualidade de vida que não tínhamos no passado, temos escolas, centros de saúde e temos habitações em tudo o que é espaço disponível. Há um conjunto de infra-estruturas estratégicas, como as sedes dos bombeiros e hospitais e outras não menos importantes para podermos viver, nomeadamente, as creches, os supermercados e os centros comerciais. Isso não tem nenhuma relação com o perigo. Não somos obrigados, só porque as temos de construir, faze-lo debaixo dos taludes. O argumento, de termos de construir muito e não ter espaço para o fazer é falso, não existe. Dou um exemplo, no 20 de Fevereiro não houve nenhum hotel destruído, porque? Porque se trata de uma área onde nada acontece. Nunca serão atingidos por enxurradas, ou outro tipo de inundações. Alguns estão junto à costa e esses terão outro tipo de problemas. A sociedade só constrói onde tem uma vulnerabilidade muito alta, porque não percebem onde e por isso constroem onde não devem. Depois, esses desastres acontecem. Estamos a iniciar um estudo arqueológico sobre desastres naturais, cujo objectivo é perceber em 1803, ano em que houve um grande desastre, por exemplo, quais as medidas mitigadoras que se adoptaram. Vamos ver a diferença entre esse ano e 1993. As grandes catástrofes mudam as culturas dos povos. As grandes romarias que temos são todas associadas a desastres naturais. Que quer isto dizer? Que no passado houve mudanças culturais em função desse acontecimento. Na história se falarmos em termos globais, houve civilizações que desapareceram, outras adaptaram-se. O que vai acontecendo? A maneira de estar das pessoas altera-se, vão-se adaptando, uns mais rápidos, outros mais devagar, essa é a evolução. Vamos fazer esse levantamento de 1803, saber quais as medidas que as pessoas tomaram para minimizar esse desastre natural, comparadas com o que estamos a fazer agora. A evolução da sociedade depende deste tipo de decisões racionais, fazer uma avaliação da vulnerabilidade e saber até que ponto as pessoas no seu comportamento mudaram alguma coisa. Se chegarmos a conclusão que somos mais vulneráveis teremos de tomar medidas.
Vamos supor que introduzimos uma cultura de segurança nas escolas, há uma ou mais gerações que não dispõe dessas ferramentas, aí o que fazemos? A única maneira será introduzir legislação?
DR: Não. Uma sociedade que não é cumpridora, não vai cumprir a lei. Essa é a grande questão. Uma medida isolada não funciona. A pergunta que eu faço é a seguinte, temos um número elevado de mortos em acidentes de viação, porque? Com as multas pesadas por acaso, elas diminuem? Então, o que podemos fazer? Educar as pessoas, como fazem na Suécia, que nunca passam o limite de velocidade porque o cumprem. Como conseguiram isso? Educando a população. Se uma pessoa for educada nesse sentido, esse alguém não vai fazer uma proposta a uma Câmara Municipal 500 vezes, com um projecto que não faz sentido nenhum. Os cidadãos querem ver aprovados os projectos muitas vezes dos mais descabidos possíveis e ainda dizem que tem razão. Imagina, que nenhuma dessas propostas aparece na edilidade. Óptimo não tem nada para gerir. Se todas as pessoas quando constroem a sua casa terem a noção do perigo e evitarem zonas de risco, quem gere o território tem a vida facilitada, ou não? Isto é válido para toda a sociedade, desde a classe dirigente política até o cidadão anónimo.
A solução era terem planos de ordenamento do território que sejam amplamente discutidos e que as pessoas sabiam quais são as regras. O que acontece? As pessoas sabem a legislação, mas o que fazem? Arranjam maneira de contorna-la para a não cumprir, aí nada funciona. Um plano de risco não resolve nada, é uma porta, sem dúvida. Isolado não adianta. De que me serve um sistema sofisticado de alerta, se as pessoas não ligam nenhuma. Se eu enviar um SMS, à toda a população em geral, a alertar para não saírem de casa, porque vai chover e as pessoas decidem na mesma passear, qual é a efectividade dessa medida? Zero. As pessoas são culpadas? Evidentemente que não. Temos é que educar os jovens para que tenham um comportamento adequado, quer sejam de acordo com as situações em que vivem, como em relação a desastres naturais, ou acidentes de viação. A abordagem tem de ser multidisciplinar, investir na educação, em sistema de alertas e legislação. Por acaso os jovens no meio escolar abordam estas questões directamente relacionadas com a sua comunidade? Não, fala-se do Japão e do Chile e o que se passa cá? Isso não é sequer tido em conta, quais são as nossas limitações. No caso dos incêndios, as pessoas queixam-se, mas a grande maioria não limpa as matas em torno das casas. É uma questão de gerir comportamentos. O risco no fundo é gerir a forma como se comportam em sociedade. Se os cidadãos cumprirem à risca, seu o grau de vulnerabilidade diminui. Nunca há risco zero.
E os planos de emergência?
DR: Têm é que ser aprovados e depois funcionam. Uns melhor e outros não, porque há autarcas que os aplicam. A documentação existe. Se houver uma discussão pública, o que acontece? Provavelmente, não aparece lá ninguém. Quando se discute os planos directórios municipais, as pessoas só querem saber é se podem construir ou não. Não estão preocupadas com mais nada e depois queixam-se. As populações tem que saber, quais são as limitações do local onde vivem, não é só preocupar-se se pode comer isto ou aquilo. Está a chover não se transita de um lado para o outro. A única proposta que existe em termos jurídicos é o chicote. Não é o caminho que devemos seguir. A aposta deve ser na educação e nas escolas. É saber como comportar-se perante uma catástrofe natural.
Ainda mais nesta ilha, tendo em conta a orografia.
DR: A questão não é essa. Se for até a Suíça, eles também tem uma orografia difícil como nós e mais têm neve e que eu saiba não vivem mal. Os japoneses vivem num país terrível, no entanto, basta ver os filmes do último sismo, avisaram-nos e eles portaram-se bem. Morreram, mas se fosse num país como o nosso, estavam completamente devastados. Quando o tsunami atingiu o território, vimos carros a ser arrastados, mas as populações deslocaram-se até zonas mais altas, cá punham-se a tirar fotografias. Esse é que é o problema, as pessoas não têm a mínima noção do perigo.
Mas, na Madeira coloca-se a questão da construção em terrenos com declives, o que gera o aparecimento de casas com varandas viradas para precipícios e garagens no telhado. Como é que se pode evitar esse tipo de situações?
DR: Isso tem a ver com a forma adequada de edificar. Estive a ver recentemente um código australiano, utilizamos muito a experiência deles no seu ordenamento do território, eles dizem que um projecto não pode aumentar o grau de instabilidade de uma determinada zona. Não significa que não se pode construir, o que se pretende é que o projecto em causa, não prejudique ainda mais a instabilidade da referida área, se assim for não pode ser feito. Estão a proibir? Não. Tem de ser adequado e de qualidade. Podemos ter projectos em zonas de risco que o diminuam. Muitos desses projectos são de fraca qualidade e compreendo que nem toda a gente tem as mesmas possibilidades financeiras, e constroem onde podem, nem todos são ricos. O que se pretende é arranjar ferramentas para evitar esse tipo de construções em zonas de risco. Para isso existem, os bairros sociais e as permutas de terreno. Ninguém obriga uma pessoa a fazer uma casa mal feita num penhasco. Esse tipo de comportamentos só surge derivado ao nível de conhecimento dos riscos, que é nenhum. As pessoas que vivem na cidade, por exemplo, têm uma noção da perigosidade muito diferente sobre uma determinada zona, em relação aos que viveram lá toda a vida. Isso torna as pessoas muito vulneráveis. Nós temos de ter uma ocupação do território adaptado a nossa realidade.
A irreverente marta

O seu rosto entra nas nossas casas todos os sábados à tarde. Apostou na sua formação na área da comunicação social, porque o seu maior sonho era trabalhar no mundo do audiovisual. Um casting abriu-lhe as portas para a sua paixão, tornando-a numa das apresentadoras mais jovens da televisão pública.
Como surgiu a oportunidade de iniciares a tua carreira na televisão?
Marta Machado: Em 2004 vim viver para a Madeira e no ano seguinte soube que havia um casting para apresentar um programa que era o “passeio público”, era um espaço onde se apresentava os eventos da noite e os acontecimentos culturais. Eu concorri e passei. Esse programa durou dois anos e depois surgiu a oportunidade de começar este novo projecto que era o “irreverência” que veio preencher uma lacuna que havia na RTP- Madeira que não tinha nada para o público juvenil e este programa preencheu essa ausência. Estou no “irreverência” vai fazer cinco anos. Neste momento auxilio na produção do programa e já fiz a apresentação de alguns espectáculos da RTP. Tive também, uma experiência na rádio, na antena 3, nas manhãs.
Como é apresentar um programa ao vivo de televisão, os maiores desafios e as dificuldades?
MM: Bom, quando apresentámos um programa em directo como é o “irreverência” temos que ter a noção que todos os imprevistos que existem são planeados, está tudo bem preparado. É um programa semanal, que é direccionado para os jovens e como tal temos que ter uma linguagem abrangente. Ou seja, não apresento o “irreverência” da mesma maneira que apresentaria o natal dos hospitais. São públicos diferentes. Há essa noção. Depois temos de chegar aos jovens que é o mais difícil, porque aquilo que se calhar para nós não é interessante, para muitos deles é. Procuramos debater os problemas que eles querem ouvir. Saímos à rua para saber quais são os assuntos de maior interesse e as suas preocupações. No campo mesmo, é muito difícil fazer um programa de uma hora e meia, é necessária muita investigação e uma preparação muito grande para que tudo corra bem.
Após este interregno qual é o próximo passo do irreverência?
MM: Vamos avançar com o programa dia 1 de Outubro. Nesta nova série vamos tentar modificar algumas coisas, fazer mais reportagens e manter os temas actualizados.
Qual é a diferença que notas entre fazer rádio e televisão?
MM: A grande diferença para mim e parecendo que não na televisão temos um grande apoio que é a imagem. Ela dá-nos tudo. Se eu fizer um gesto consigo transmitir melhor a mensagem que quero passar. Ao passo que na rádio, o objectivo é transmitir tudo o que sentimos através da voz e a própria colocação da mesma tem de ser muito cuidada.
Os caloiros

Os dul n’nouk white são uma jovem banda rock alternativo como eles próprios se definem. São um grupo com uma sonoridade de fusão que alia a junção de vários instrumentos nos seus temas. Cantam em português e inglês porque lhe apetece e o seu maior sonho é tocar fora da ilha. A estreia auspiciosa foi na abertura do Funchal Music Fest Live’ 11.
Como é que tudo começou?
Sandra Branco: Eu tinha um projecto a uns anos atrás, que infelizmente teve que acabar. Depois comecei a fazer uns trabalhos e sentimos a necessidade de ter uma bateria e outros instrumentos e foram surgindo os restantes elementos que vieram de outros projectos e a banda foi crescendo aos poucos, fomos acrescentado um piano, um violino e uma harmónica e cá estamos.
Qual é o vosso estilo musical?
SB: Não temos estilo musical somos uma banda rock alternativo. Tocamos desde blues, a modificações de fado e música mais industrial. Nós tocamos um pouco de tudo. Não planeamos ter nenhum estilo. Vamos tocando.
Compõem as vossas músicas? Qual é a fonte de inspiração?
SB: O espírito. Somos diferentes em termos de gosto musical. Cada um de nós faz música á sua maneira e a fusão resulta numa canção. É o nosso trabalho. Vários gostos distintos e sai dul n’nouk white.
Cantam em inglês e português.
SB: Exacto. Temos dois temas em português. Um deles é um cover da Amália Rodrigues e de resto é em tudo em inglês, de uma forma natural. É o que a letra nos pede. Não nos projectamos em inglês ou português é conforme nos apetece
Marco Panamá: Mas, estamos também a pensar cantar em alemão.
Rita, a maravilhosa


Começou a sua carreira na música jazz com apenas 14 anos de idade. Desde aí canta e encanta o público com a sua voz madura e melodiosa. Um percurso jazzístico que pretende encerrar, não por completo, com um trabalho discográfico que encerra todas estas experiências de vida e de influências musicais.
Noto nas canções que escreves que és uma romântica. Vês-te assim?
Rita Maria: Falo de amor e da falta de amor, o desamor (risos). Sim, sou uma verdadeira romântica, mas há um lado de mim que não está explorado, porque para além desse repertorio, tenho uma outra faceta mais abstracta, mais contemporânea e se calhar por isso, estou a entrar no mundo do rock pesado e as temáticas da música que faço estão a mudar um pouco.
Vais deixar o jazz?
RM: Não sei. Agora que estou a trabalhar no Equador, quero aproveitar as raízes daquele país e conhecer as suas tradições musicais. Pretendo introduzir a língua espanhola no que faço e invadir outros estilos também.
Como é que uma portuguesa, cantora de jazz, vai agora para o Equador?
RM: Eu estudei nos EUA, na Berklee College of Music, em Boston. Lá estive em contacto com pessoas de todo o mundo e nesse contexto surgiu um convite para ser professora. Após a minha estadia nessa instituição, um ano depois, através de um professor surgiu a oportunidade de ir até o Equador, porque a universidade utiliza o mesmo tipo de ensino da Berklee.
Vais começar a dar aulas?
RM: Já estive a dar aulas, agora apaixonei-me pelo país e por qualquer coisa mais (risos). Há algo de emocional que me prende, musicalmente gosto do Equador e portanto quero continuar.
Podcast
Eventos
-
MMI- Reabertura de aquário dos bacalhaus
17-09-2016
O Museu Marítimo de Ílhavo reabre o Aquário dos Bacalhaus, depois de um período de obras de...
-
Cineteatro louletano- Programa Dezembro
 12-02-2016
12-02-2016
No dia 15, sexta-feira, às 21h00, há uma estreia que resulta de uma coprodução entre o Cineteatro...
-
Teatro Baltazar Dias-Programa Dezembro
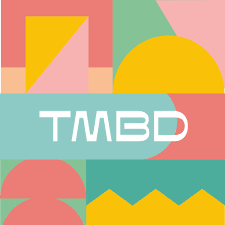 12-09-2015
12-09-2015
O último programa do ano que encerra como sempre com música... Feliz ano novo 2025...
-
CCVF e CIAJG- Concertos e Guidance
 06-06-2015
06-06-2015
A Oficina desvenda os primeiros dois concertos de 2025, a 18 de janeiro e 26 de fevereiro, no Centro...













