Yvette Vieira
Música na pérola do atlântico

O Funchal Music Fest live 2011 é um projecto ambicioso que pretende colocar no mapa à ilha da Madeira, à sua capital e os músicos madeirenses no panorama nacional e internacional dos circuitos de festivais de verão. A organização apostou na criação de um complexo temático, localizado no parque Santa Catarina com cerca de 36 000m2, que irá albergar não só o palco principal para os artistas convidados, mas também uma área lúdica com um touro mecânico e um espaço para os gladiadores e ainda uma zona de restauração para as cerca de 6200 pessoas previstas diariamente para este recinto da música cantada em português. A contagem decrescente começou…
Como surgiu a ideia de organizar um festival de música, uma versão do rock in rio, numa ilha?
Duarte Costa: Não havia um festival de música de verão. Existem muitos eventos por aí, mas não o verdadeiro conceito de festival pop-rock. As pessoas marcam férias de propósito para este tipo de iniciativas, comemoram com os amigos e a família a música e o facto de estarem num ambiente que também tem actividades lúdicas. A oferta que já existe com grande expressão é em Portugal continental queria faze-lo aqui, tendo em conta a nossa dimensão. É um universo de 270 mil habitantes em Agosto é um pouco mais, por causa dos emigrantes. Mas, de qualquer forma é sempre limitado. O parque Santa Catarina foi escolhido não só porque se encontra no coração da cidade, mas porque é um ex-líbris do Funchal. É um cenário natural magnífico com vistas sob o mar, é um anfiteatro ideal para este tipo de iniciativas, que visa ainda chamar à atenção sobre a cidade e catapulta-la ao nível nacional no circuito dos festivais de verão. Incentivar as pessoas que gostam de música de vir até á Madeira.
Mas, para que possam vir até cá, há algum acordo com as companhias áreas para o evento?
DC: Sim, existe um acordo, porque envolve um custo elevado em termos de deslocações aéreas e estadias. O Funchal Music Fest criou um pacote que inclui o bilhete de três dias, estadia e passagem aérea, que permitem a viabilidade deste tipo de iniciativas.
Reparei que o cartaz está recheado de grandes nomes da música portuguesa, foi propositado?
DC: Sim, é um facto. Realmente, Portugal tem qualidade ao nível nacional e as pessoas reconhecem isso. Obviamente temos que ter uma banda internacional que sirva de âncora e para que possamos ser ouvidos e comentados ao nível internacional. É outra forma do festival ser conhecido fora do país e transportar a cidade para esse patamar exterior. A escolha recaiu sobretudo na qualidade das bandas e no alinhamento temos até artistas consagrados. Nada melhor do que um festival com música na nossa língua.
Um dos lemas do Funchal Music Fest é a sustentabilidade. Em que medida é que temos esta faceta ecológica?
DC: Nós temos várias facetas de sustentabilidade. Há a ambiental e a financeira. A primeira é ao fim ao cabo vem na linha daquilo que defendemos desde o dia 19 de Março que foi o dia do arranque oficial do Funchal Music Fest live 2011.Mais do que um festival é um movimento, ou seja, não se esgota nesses três dias de concertos. Tem uma vocação e capacidade de movimentação, chamar á atenção das pessoas para determinadas áreas que merecem maior expressividade e que granjeiem por parte do público uma sensibilização maior. É o caso específico do parque ecológico do Funchal (PEF), ele é o grande pulmão da cidade e eu como cidadão quase desconheço as actividades que lá decorrem e o que representa para o Funchal em termos turísticos e sociais. O PEF vale não só pela sua biodiversidade, mas também pelas suas actividades lúdicas e desportivas que se podem usufruir neste espaço natural.
Uma revista à moda do TEC
O grupo de Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha foi fundado em 1989 com um objectivo de promover a cultura numa forma de arte menos reconhecida pelo público. Passados 27 anos de existência possuem já um curriculum vasto, mas não param de crescer e criaram até um festival de teatro único na Madeira. Participam activamente na semana de arte Camachense com uma revista à madeirense que é o ponto alto deste evento, tal é a adesão em massa do público. Um espectáculo que movimenta cerca de 40 elementos do grupo que integram as quatro rábulas de crítica social, com música e dança, como nos contam os principais responsáveis do TEC.
Porquê a escolha de uma revista para apresentar em público?
Basílicia Fernandes: A revista normalmente transmite o seu sentido de humor. E estamos perante um público que na sua grande maioria tem da ideia de que o teatro é para rir, em que se apenas faz humor, embora as pessoas não desconheçam de todo que somos um grupo que pomos em cena todo o género de peças. A revista é mais para animar o público, tem de ser mais viva e transmitir a nossa crítica.
Sara Branco: É uma forma de crítica social perante tudo o que se passa aqui na vila, na Região ou no Continente. O teatro é por excelência esse palco. Quem pode fazer crítica de forma gratuita e sem consequências? Somos nós. Por isso, pegamos nessas vivências, nos temas mais fortes do ano, este ano é a crise e falamos dela. Não há outra hipótese.
BF: No passado fizemos as sete maravilhas da Camacha. O que retratamos? Aquilo que nós achamos que estava mais degradado, esquisito e triste, foi esses os temas que escolhemos. Foi muito bem aceite pelo público.
Pelo que sei a adesão a este espectáculo é em massa, de tal forma que as pessoas mal se conseguem mexer.
BF: Sim, é um facto. As pessoas vêem propositadamente ver o teatro e daqueles quatro ou cinco dias que funciona o festival de arte Camachense, tendo uma noite de rock, folclore e jazz e cantores reconhecidos pelo público em geral, de facto ninguém consegue encher a praça como nós e somos um grupo de teatro amador. No ano passado, foram contabilizadas 2000 mil pessoas.
SB: As pessoas estão curiosas para saber qual deles vai ser alvo da nossa crítica. Nós criticamos a população local, no bom sentido, a brincar, sem ferir susceptibilidades. As pessoas acabam por saber de quem falamos e eles riem-se. Como a revista faz em geral. É um espectáculo completo, pomos dança, pomos canções e sketches, tal qual um teatro de revista. Embora, a percentagem das rábulas sobre a realidade nacional seja muito pequena, quando comparada com todo o resto. Desde as letras das músicas até os textos, tudo se relaciona com à Região.
Podes levantar um pouco do véu do que vai ser o espectáculo?
José Ferreira: Bem, não podemos faze-lo demasiado, porque as pessoas estão atentas. É quase como um segredo de Estado. Essencialmente foi buscar os temas relacionados com a Camacha e a Madeira. Muda de espectáculo para espectáculo, porque no fundo somos amadores. Procurámos abordar o que as pessoas tem mais de genuíno e tentámos adaptar. É buscar a essência do que temos e nunca tentar imitar uma revista profissional, como as que são posta em cena em Lisboa. São situações diferentes.
Como surgiu a ideia de uma revista?
BF: Em 1989 fomos os primeiros a organizar em parceria com o Inatel, deve-se frisar que a nossa existência deve-se muito a esta instituição, o primeiro ciclo de teatro amador madeirense com vários grupos da Madeira. Para levar à cabo esse projecto, juntamos sketches soltos e o coordenador da altura do Inatel, o Carlos Pereira, deu a ideia que desse conjunto de trabalhos humorísticos que déssemos o nome de revista à Camachense. E assim ficou. Nesse mesmo ano apresentámos uma peça ao ar livre, mas não resultou muito, porque não havia uma aparelhagem adequada na altura. Mais, tarde é que tentámos levar para a cena a verdadeira revista à nossa moda.
SB: Nós ao longo do ano vamos criando textos isolados. Depois reunimos todo o grupo e vão surgindo ideias até chegar ao tema. Junta-se tudo para que haja um espectáculo inteiro.
BF: O espectáculo está pensado dessa forma, porque no passado havia espaços mortos e para evitar que isso aconteça criámos sketches a imitar um momento publicitário. O objectivo é que alguém entre logo em cena para que haja um seguimento. Nós temos um ritmo alucinante para evitar que o público se aborreça. As pessoas dizem-nos que após uma hora e meia saem dali com os pés dormentes, porque infelizmente não temos ainda um auditório em condições.
De corpo e alma
Jorge Neto descortinou a sua vocação para a arte de representar de forma inesperada. Uma descoberta que lhe permitiu encetar uma carreira de actor com mais de dez anos, alguns dos quais dedicados a uma personagem memorável que lhe trouxe a fama e o reconhecimento do público português, o famoso rato da saga balas e bolinhas.
De que forma surgiu a tua primeira experiência como actor? Foi no balas e bolinhos?
Jorge Neto: O inicio de tudo foi essa proposta de amigos de se juntarem para fazerem uma curta-metragem. A ideia inicial era fazer um filme sobre um grupo em torno de uma mesa, no seu ambiente natural. Queríamos fazer algo engraçado. O conceito visava criticar o mundo à nossa volta, naquele contexto. A minha personagem surge naquele momento, nos ensaios, uma vez por semana, foi crescendo mediante aquilo que era escrito e construído. Ele foi ganhando as suas características próprias, diferentes dos outros, como é natural e na forma como vemos um roedor e como olhámos para os “ratos” que abundam no nosso quotidiano. Depois procurei adicionar a forma frenética de ser deste animal e alterei a voz.
O que acrescentastes mais no segundo filme?
JN: O que torna mais credível este personagem são as situações que foram criadas nesse filme. A produção teve essa preocupação. É diferente colocares o rato numa rua, do que numa cena a interagir com outras personagens e mais figurantes. Há uma evolução, como era natural. Era impossível repetir o que fiz no primeiro filme
Então o que mudastes?
JN: As frases que o público gostou mais, que foram usadas novamente pela personagem e complementamos esse discurso com novas reacções. Eu enquanto actor nesta segunda longa-metragem, faço uma abordagem mais cinematográfica do rato, porque nessa altura estava a estudar cinema. A forma como enquadrar-me perante a câmara e tudo o que está à tua volta. Embora, o personagem é o mesmo.
Neste terceiro, este rato é mais físico?
JN: A ideia é que a saga termine por aqui e embora seja influenciado pelos outros dois filmes, já não existe uma grande quantidade de improviso. Nesta terceira parte, não podemos fugir muito do argumento para que o dia de rodagem termine de forma positiva. Do ponto de vista da actuação em si, terei mais cenas, agora é tudo mais cronometrado. Está feito como foi programado e não há muito espaço para mudar.
O descobridor Azguime


Miguel Azguime é um nome incontornável da música erudita no nosso país, ou de invenção como ele gosta de apelidar. Criou o Miso Music Portugal com o intuito de ser uma janela aberta para o exterior dos jovens músicos portugueses e os novos compositores nacionais. É também um dos promotores do centro de investigação de investigação e informação da música portuguesa para o mundo global.
Vamos recuar no tempo e falar dos vinte e cinco anos do miso ensemble há diferenças em termos musicais?
Miguel Azguime: É uma pergunta difícil de responder, porque ao longo dos já vinte sete anos que fazemos este ano, crescemos, envelhecemos, alterámos a configuração e a sua prática e os nossos interesses também mudaram. Para fazer essa comparação entre o Portugal de 1985 e o de agora inevitavelmente estamos condicionados por estes anos que passaram pelo grupo.
Mas, acha que houve uma evolução ou não? Ou estamos a regredir?
MA: Acho que há duas perspectivas, desde o ano de 1985 até sensivelmente 1993, com o miso ensemble corríamos este país de lés-a-lés, estivemos inclusive na Madeira e no Porto Santo, com concertos que se realizam num universo efervescente interessado pelas artes e pela cultura. Era um mundo muito diferente, que não tinha a internet, existia, mas era apenas nas universidades e ainda não fazia parte do quotidiano das pessoas. As notícias circulavam pelos jornais e tínhamos uma presença enorme na imprensa. Eu tenho até um calhamaço com recortes dos jornais e um terço desses artigos foram dessa época, mostram à atenção que a comunicação social nos dava. Íamos com frequência à televisão, havia até espaço para outras músicas alternativas, eu diria para a arte, com A grande e não apenas para o entretenimento. Era num contexto do ponto vista sociocultural um Portugal muito diferente do país de hoje e esse período tinha algumas qualidades, mas também defeitos. O Portugal de 1985 comparativamente ao país destes últimos anos, finais dos anos noventa princípio do século XXI, é uma nação que mudou imenso com muitas coisas positivas no que se refere a música erudita, ou de invenção como prefiro chamar. A formação é de 2000% estamos a viver a ideia de ouro na composição de música portuguesa, superior à aquela que considerámos ser ainda melhor, a idade da polifonia, no século XVII. Temos grandes intérpretes, o agrupamento sond'ar-te electric ensemble, por exemplo, possui um nível igual ou superior ao resto do mundo. Há uma qualificação dos músicos extraordinária que fazem música com grande qualidade.
Focando essa vertente da qualificação o Miso Music Portugal tem tido um papel fundamental na promoção da criação através do festival música viva. Qual é a importância deste evento ao nível nacional e que balanço faz deste 18 anos de existência?
MA: Tudo isso é verdade e há o reverso da medalha. A sociedade neoliberal que se instalou nos últimos vinte anos e que se esta a agravar rapidamente de forma preocupante, que aparece com a perestroika, a queda do mundo de Berlim e o fim do chamado bloco de leste, abriu caminho para uma serie de excessos e uma manipulação das pessoas. E em vez de estarmos a evoluir civilizacionalmente, no sentido filosófico da vida, nas questões da vida e da morte que ocupam os seres humanos a milénios, (o sermos todos iguais que são as preocupações de ordem metafisicas e filosóficas que tem ocupado a humanidade), acontece o inverso. O que seria de nós portugueses sem o Camões, sem o Fernando Pessoa, sem a Vieira da Silva e isto é valido para tudo, no fundo há um legado, um património em termos de pensamento que de repente parece que não existe para ninguém, vivemos uma hegemonia de mercado, que destrói a memória, a terra e até põem em causa a humanidade. É um aspecto negativo que se ressente naquilo que é a disponibilidade da maior parte das pessoas para aquilo que não lhes é impingido pelo marketing e pelas televisões. Agora dito isto, para colocar em perspectiva estes por vinte cinco anos de uma forma muito lata, enquanto em 1985 tudo era expectativa, esperança e desenvolvimento em 2012 tudo é retracção, preocupação e temos muito menos actividade. Voltando ao festival, ele desempenhou efectivamente um papel importantíssimo (em plena consciência e modéstia a parte) no fomento de novas gerações de músicos portugueses que estão a dar cartas no mundo inteiro. Evoluímos também na nova composição com novos intérpretes, temos fomentado a criação musical, por isso há muitas encomendas. Demos oportunidades a muitos jovens para se apresentarem pela primeira vez num festival, alguns deles tem tido uma carreira brilhante e que são até músicos desconhecidos pelo público português. O festival segue uma curva, começa pequenino, depois vai crescendo e chegámos a 2005 com um evento com 25 concertos e em 2012 vamos ter nove concertos, melhor, sete, porque dois são jovens estudantes, ou seja, estamos reduzidos a um terço da actividade que tínhamos até uns anos atrás. Houve um crescimento até um certo ponto, mas agora estamos em queda como tudo o resto. É um problema que tem fundamentos financeiros, mas no fundo denotam uma opção que é politica sobre a humanidade e isso evidentemente preocupa-me. Em conclusão, a arte do ponto de vista estruturante é fundamental para a existência humana e aconteça o que acontecer perdurará e pode até ter momentos piores, mas acredito que os verdadeiros artistas criam em quaisquer circunstâncias, pode é não chegar as pessoas, mas paciência. Quanto aos poetas contemporâneos portugueses conhece? Haverá poucos, deve haver bastantes e bons, só que ainda não demos por eles.
Recuando um pouco ao festival, embora haja um retrocesso financeiro, o público está atento e continua a aparecer?
MA: Continua a aparecer e a estar atento. Diria mesmo que tem crescido, embora devagar, nos operamos numa área que há um trabalho de fundo que necessita de ser feito. Neste caso, as pessoas procuram-nos, a televisão hoje não nos dá espaço nenhum, com excepção do programa “câmara clara” onde estive a um ano. No obstante, apesar de não dispormos desses meios de divulgação em massa para chegarmos a mais gente, o público de facto tem crescido e temos hoje em dia um festival com casa cheia.
Um grito de liberdade


A Associação Portuguesa de Investigação Arqueológica (APIA) foi criada por um grupo de jovens arqueólogos com o objectivo de desenvolver projectos de investigação nessa área. Um grito de Ipiranga que visa também, criar espaço para a discussão científica sobre certos tabus que ainda subsistem no nosso país, como é caso dos achados arqueológicos dos Açores, anteriores à colonização portuguesa.
Como é que surgiu a APIA?
Sérgio Pereira: A APIA foi criada há doze anos, foi um grito de revolta de um conjunto de jovens arqueólogos que não tinham espaço para trabalhar na comunidade científica. As verbas que existiam para pesquisa eram sempre para os mesmos. Não havia espaço para os mais jovens, era tudo tendencioso. Houve então um grupo de pessoas que se reuniu e criou uma associação com o objectivo de dar esse apoio na área de investigação arqueológica e paralelamente estabelecer parcerias com empresas para angariar verbas, ou seja, canalizar esse dinheiro para desenvolver projectos de pesquisa, um papel que deveria ser assumido pelo Estado. De facto, existiam bolsas, através do chamado plano nacional de trabalhos arqueológicos que muito raramente eram atribuídos aos mais jovens e os poucos que eram aprovados, vinham atribuídos sem verbas. Ir para campo sem qualquer apoio financeiro é quase impossível, nas escavações há sempre despesas.
Então como tornaram o projecto sustentável?
SP: Tivemos que criar o que nos chamámos de arqueologia empresarial. Criámos um grupo de pessoas vocacionadas para salvamentos e acompanhamentos arqueológicos impostos por Lei e realizamos estudos de impacto ambiental para parceiros privados. O lucro obtido através desses trabalhos ao invés de ser divido entre os sócios como acontece em qualquer sociedade, em primeiro lugar, é canalizado para recompensar monetariamente as pessoas que trabalhavam nos projectos e o excedente é aplicado em bolsas de pesquisas. É a forma sustentável que permite realizar trabalhos científicos. Oferecemos bolsas de mestrado e doutoramento, que posteriormente são publicados em revistas e congressos internacionais da especialidade, porque nos permite uma divulgação dos resultados, que é imediata, para a comunidade científica global. Em Portugal, essa divulgação só acontece passado três, quatro anos.
Um dos projectos que a APIA tem vindo a desenvolver é na Serra da Estrela, em que consiste o vosso trabalho naquela zona?
SP: Esse projecto na Serra da Estrela surgiu com o Nuno Ribeiro através da sua tese de doutoramento, que identifica arte rupestre entre o rio Seia e o Alva. Esse estudo deu início à uma série de investigações que apontavam, a existência, segundo locais, de algumas dezenas de sítios arqueológicos. Neste momento estão identificadas 700 áreas com arte rupestre. Todo este levantamento e identificação só foi possível através dos estudos de impacto ambiental que ajudou a fornecer dados para essa pesquisa e todo o dinheiro era investido em prospecção, contratar pessoas de outras áreas, como sejam geólogos e antropólogos para conseguir elaborar um projecto mais abrangente em todas as disciplinas, ou seja, multidisciplinar.
O centro de interpretação de arte rupestre, que foi criado há 4 anos, foi fruto desse trabalho. É uma espécie de base para todo o levantamento que é desenvolvido em toda aquela zona. É um deambulatório e escritório para todos os projectos desenvolvidos naquela área. Todos os processos de investigação passam por lá, ou seja, os 700 sítios inventariados e estudados de arte rupestre e também os restantes, os monumentos funerários e minas antigas romanas ou da idade do ferro. Neste momento, são cerca de 1.100 sítios, já devidamente catalogados.
Um actor nada ausente
João Pires é conhecido do público pelo personagem Bino, um dos integrantes do quarteto de malucos do “balas e bolinhos”. Considera-se um actor amador, mas é geógrafo de profissão. Vive fora de Portugal, mas veio de licença sabática para gravar a terceira saga final.
Quais foram os desafios que encontrastes para a tua personagem desde o balas 1?
João Pires: Bem, já foi a uns anos.
Foram sete.
JP: Não isso foi o segundo. O primeiro foi em 2000. Eu fazia teatro amador com o Jorge Neto, o rato do filme. Participávamos em dois grupos que eram comuns e além disso éramos vizinhos desde a infância. Valongo é um meio pequeno e assim facilmente conheci o Duarte e o Ismael. Bem, o Duarte fazia parte de uma associação que eu não frequentava com assiduidade, mas ia de vez em quando. E o filme quando foi escrito foi idealizado para estes quatro personagens. Eles, o Ismael e o Jorge lembraram-se de mim e os moldes do filme foram sendo adaptados tendo em conta que seria eu a encarna-lo.
Eles deram-te algumas ideias sobre este personagem para o primeiro filme?
JP: A primeira vez que falamos sobre o assunto, foi logo do inicio, não tínhamos a noção que seria um filme, havia a ideia de uma curta-metragem, mas íamos fazer qualquer coisa. E então juntamo-nos os quatro, o Ismael sempre como mentor do projecto, fomos ajustando as coisas e decidimos avançar. No primeiro encontro que fizemos para o primeiro filme, foi um dos ensaios para uma das cenas, em que entrava como Bino, fizemo-lo numas escadas de um acesso a uma sala de teatro. E foi um primeiro ensaio. Ia a subir para tentar encarnar uma personagem que é uma pessoa completamente fora da realidade, seja porque é maluco, ou toxicodependente, o filme nunca explica muito bem o porque. Nessa primeira abordagem, eu estava a tentar criar um andar muito esquisito e nesse primeiro encontro tentamos visualizar algo que seria gravado mais para frente. Depois foi crescendo e sempre com uma perspectiva de solidariedade entre todos. Não havia dinheiro. Gravava-se quando se podia. Uns porque não podiam esse fim-de-semana, filmava-se a seguir e no fundo não era uma prioridade, mas que aos poucos foi ganhando espaço nas nossas vidas.
Quando sentistes que o teu personagem era reconhecido pelo público, que havia muitas pessoas que já o tinham visto? Foi no Fantasporto?
JP: No Fantasporto teve impacto. Considero que o período da minha vida onde senti mais isso foi na faculdade de letras, notei que havia muita gente a olhar para mim e senti-me observado. E pensei, mas o que se passa aqui? E ainda hoje não estou habituado. Nem tenho muito a noção do impacto que teve. Agora é lógico temos mais experiência e uma melhor concepção, mas na altura era, como as pessoas sabem quem eu sou?
O condutor de sonhos
Rui Massena conduz os destinos da orquestra clássica da Madeira à já uma década. Uma faceta que ainda o seduz, mas que é apenas um dos vértices do seu talento. Sendo programador de Guimarães Capital da Cultural 2012, o maestro pretende mostrar aos portugueses e ao mundo o que de melhor se faz em Portugal em termos de criação musical.
Qual o balanço que faz desta década à frente da orquestra clássica da Madeira?
Rui Massena: O balanço pode ser ouvido. É uma orquestra com energia com gosto pela música, continuo entusiasmado com a direcção desta orquestra em particular. Ainda há muito a fazer, porque é necessário crescer, mas o balanço é um forte crescimento.
Disse numa entrevista que pretendia cresce-se como uma centralidade musical, já atingimos esse patamar?
RM: Não, não. É necessário que as pessoas que tem poder de decisão entendam que o turismo também é cultura e que a orquestra clássica pode ser uma referência nacional e internacional para que as pessoas que no futuro visitam à ilha saibam que tem aqui uma temporada de luxo, de excelência. Centralidade musical no sentido de que e usando uma metáfora, há um grande carro e pouco dinheiro para gasolina, portanto, temos que investir na orquestra para depois tirar dividendos em termos turísticos.
Já tocou com José Carreras e os Da Weasel quais são as diferenças entre estes dois estilos musicais?
RM: A música dos grandes compositores clássicos exige uma perfeição técnica muito apurada. Tocar com um grupo de hip-hop exige um entusiasmo muito apurado. Não é que a clássica não necessite, mas é necessário compreender outros fenómenos rítmicos. É preciso entender como a música é feita e assumir uma identidade musical e emotiva. No geral precisa de muita perfeição técnica para existir. Portanto, a diferença é essa.
Com a pronúncia do norte
João Seabra é um homem do Norte. Desde Braga para o resto do país conta piadas sobre as idiossincrasias do povo português com o seu sotaque inconfundível. Uma carreira notável que encetou profissionalmente desde 1993 e que o faz rir só de recordar.
Como é a vida de um humorista em Portugal?
João Seabra: Não me posso queixar, não é que seja algo de outro mundo, tem corrido bem, em Portugal há muitas coisas para fazer humor e faz-se bem cá, o português gosta de rir e quer rir, existe público e motivos para fazer humor.
És muito associado ao Norte, pelo conteúdo das piadas, o sotaque foi sempre propositado?
JS: Sim, quando comecei a minha deixa de entrada até era, eu vim de Braga! Marcava o sítio de onde vinha e às vezes até exagero o sotaque do Norte. Mas é algo de que me orgulho, apesar de Portugal ser pequenino, tem uma diversidade muito grande, muitos sotaques, muitas maneiras de estar. Eu tenho muito orgulho de representar uma determinada zona do país e não me importo quando as pessoas me associam a Braga, ou ao Norte.
Isso não restringe o estilo?
JS: Não, de forma alguma. Tanto assim é que fui convidado para actuar na Madeira e faço espectáculos pelo país todo. Desde o Norte ao Algarve. É uma questão de ter um sotaque, mas não restringe.
Existe algum tema tabu nas tuas piadas?
JS: Não gosto de falar de religião e de temas ligados a pedofilia.
Mas é por uma questão pessoal ou apenas porque achas que vais enfrentar uma reacção negativa do público?
JS: Acho que são muito delicados e para faze-los tem de ser muito bem abordados, senão cai-se na piada do mau gosto, na parvalheira e não aprecio. Eu como humorista gosto de fazer rir o público e não de chocar as pessoas. É a minha visão, não gosto de humor negro. Sinto que deve ser agradável para as pessoas ouvirem e não entrar em choque.
Os cabeças no ar

São uma associação cultural sediada em Valongo que visa fomentar eventos multidisciplinares em todo o Concelho. Promovem o gosto pelo teatro através de formações dedicadas aos mais jovens. Encenam espectáculos audaciosos com vista à valorização do trabalho artístico e da proximidade com o público. Apesar de aparentemente andarem com a cabeça no mundo da lua, estes artistas têm os pés bem assentes na terra.
Como surgiram as cabeças no ar e pés na terra?
Hugo Sousa: Nós temos uma formação superior comum a todos, por isso, decidimos apostar na criação de um grupo de teatro diferente do que havia aqui em Valongo. Cá, só existe uma companhia de teatro profissional e vários grupos amadores. Decidimos criar uma companhia profissional também, e que disponibiliza-se formações, que era uma grande lacuna no Concelho e promove-se espectáculos com um outro cariz que não havia até aqui. Eram basicamente a cópia de outros tipos de projectos artísticos. Isto foi em 13 de Fevereiro de 2009 e neste momento já estamos a avançar para fora de Valongo.
Essa estreia aconteceu no Teatro Latino, no Porto, porque essa sala?
HS: A escolha recaiu nesse teatro porque já tínhamos passado por lá com outros espectáculos, inseridos em outras companhias. Era uma das salas que nos agradava na cidade do Porto. O Rivoli foi também outros dos espaços que equacionámos, devido a sua centralidade, próximo da baixa, mas nunca obtivemos qualquer resposta, após várias tentativas de contacto nesse sentido. O teatro latino foi então o espaço escolhido, porque conhecíamos o Óscar Branco, ele cedeu-nos a sala e nós alugámos de imediato esse espaço. A nós, como um grupo menos conhecido na cidade, interessava-nos essa sala, porque era no centro do Porto, possui as condições que necessárias para a peça. Era também uma condição importante, que não fosse muito grande e que fosse de fácil acesso. Teríamos à nossa disposição espaços gratuitos, mas não no centro da Invicta. O público da cidade é um pouco preguiçoso, acho que só se deslocam para o centro para ver um espectáculo e aí sentem-se seguros, quando envolve uma deslocação a periferia já é tudo muito complicado. Nós somos uma companhia de Ermesinde, que fica a 12 quilómetros do Porto, e os portuenses não vêem cá. No entanto, quando fizemos o espectáculo no teatro latino, muitas pessoas que residem em Ermesinde foram ver a peça “o doente imaginário”.
O doente imaginário foi um sucesso em termos de público?
HS: Sim, tivemos salas cheias, excepto em dois dos dias, que chegou a meia casa, e foi por “culpa” dos jogos de futebol. Foi óptimo ter tanta gente, não contávamos com tanta, esperávamos público sim, mas nunca casas cheias. Os restantes espectáculos esgotaram sempre, tivemos até problemas com a bilheteira por causa das reservas. No facebook tivemos muita gente a reclamar, a falar mal porque não conseguiram ver a peça. Estamos por isso a pensar fazer a reposição do espectáculo, não nos próximos meses, mais à frente, porque muita gente se queixou de já não haver bilhetes.
Disseste a pouco que são um grupo de teatro distinto, onde marcam pela diferença?
HS: Começámos pelas actividades para criança para não serem tratadas como “deficientes mentais”, serem inferiores. Usamos textos mais fortes e trabalhámos em conjunto para a montagem dos espectáculos. Tendo presente o que eles pensam, o que acham e do que compreendem do mundo em redor. Ao mesmo tempo que fazemos as formações com as crianças no final inserimos esses ensinamentos num espectáculo onde elas participam.
Outra forma como marcámos pela diferença, é através dos espectáculos performativos. Dou o exemplo do circo que montamos na rua, só com palhaços e que não é muito usual em Valongo. Os grupos de teatro tem por norma algum repertório, ou algum trabalho interno, escrevem os próprios textos, enquanto nós apostamos num teatro mais de rua, com tempos mais compactados, de quinze a vinte minutos no máximo. O Portugal dos Cabeçudos é um desses exemplos, montámos uma tenda cenográfica, na via pública, como se fosse no tempo de Dom Henrique, era um espaço em que entravam apenas dez pessoas de cada vez para ver os espectáculos. Os actores estavam sempre a trabalhar durante uma tarde inteira, ou seja, de quinze em quinze minutos havia uma apresentação da história de Portugal com bonecos. Assim, este compactar do tempo e a proximidade com o público resultam muito melhor. E tornam-se diferentes por esse motivo. A peça de Moliére que levámos a cena, foi importante no sentido de promover o nome, por isso a aposta num espectáculo mais popular, para atrair o público e que se associe esse evento a uma marca, que é cabeças no ar e pés na terra, aí já podemos apostar mais fortemente nessa diferença.
A dona do quinas
Violante Saramago Matos esteve toda uma vida ligada a ciência, mas como diz o ditado, filho de peixe sabe nadar e também ela se dedica a escrita numa fase mais madura da sua vida. Nesta entrevista falamos de livros, como não poderia de ser do seu pai, José Saramago e da Fundação com o mesmo nome.
O facto de ser filha de José Saramago de alguma forma pesou quando decidiu editar este livro?
Violante Saramago Matos: Não, não. Demorou algum tempo para conseguir ultrapassar algumas barreiras, mas não pesou, nem deixou de contribuir ou não. Digamos que quer o livro que editei o ano passado, quer o de crianças este ano e terá continuidade não resultam, não foram influenciados de maneira nenhuma pelo meu pai.
E depois de editado considerou que as pessoas a julgavam por ser filha de…?
VSM: Não, por uma razão simples, não vou dizer que não seja natural que uma pessoa que chega a livraria e vê Saramago no nome, leia e até fica curiosa, mas não porque tenha sido dito. Vamos ver se for a uma livraria e ver o nome Castelo Branco, eu posso eventualmente pensar no Camilo, mas só por associação. Mas, que tenha influenciado de alguma maneira o acto de escrever, ou depois de publicado não senti nada.
Escreveu um livro infantil que é uma literatura difícil porque as crianças são leitores exigentes, teve isso em consideração?
VSM: Não, escolhi este tipo de literatura porque gosto muito de cães e aquele livro é a visão humana da vida do meu cão. Isto começou, ao contar umas histórias às minhas sobrinhas sobre o Quinas e elas pediam: Oh tia escreve um livro. Andaram os três à minha volta durante um tempo e eu decidi fazer-lhes a vontade e escrever um livro. Não pensava editar, isto era mais uma brincadeira para eles, mas depois comecei a perceber que poderia ter piada, podia ser interessante e estruturei uma série de livros. No fundo, eu gosto muito de crianças e aliaram-se duas coisas. Eu nunca contei aos meus filhos uma história para adormecerem durante à noite. Nunca, jamais em tempo algum tive imaginação. E não se pode dizer que este livro seja fruto da imaginação, isto é forma como ele, o Quinas, vai resolvendo, da forma como vai reagindo ao mundo, humanizado como é evidente, pelo menos interpretado por mim. Não há uma intenção pedagógica. É claro que um livro para crianças, é muito difícil escrever para elas, porque absorvem tudo o que está no livro. Para uma criança pequenina o livro é quase um Deus, aquilo que está escrito é o que é válido. É uma grande responsabilidade. Com um adulto, e estou habituada a isso, eles refilam e dizem, não é nada disso. Com a criança não, ela absorve e acredita que o que está lá escrito é verdade, por isso no meu entender a que ter cuidado, não se pode escrever um livro infantil dourando uma pílula qualquer de ensinamentos. Um livro para crianças deve ser uma história para divertir, evidentemente que obedece a alguns parâmetros. Primeiro, tem que ter uma linguagem que ela entenda, mas não pode ter erros. Mais depressa um adulto nos desculpa uma frase mal feita do que a nossa responsabilidade de dar a uma criança algo que está mal. Depois vai contribuir, enfim mais para frente, gostar da leitura, ou não. Ou ter uma reacção tão má com o livro que não quer saber da leitura. Estamos a contribuir para transformar um leitor no futuro. E depois porque realmente ela se tem de divertir. Quem escreve no fundo não se desdobra numa segunda personalidade e se eu gosto de cães por alguma razão tenho que o traduzir no livro. Se eu penso que ter as coisas é importante, não fazer patifarias é importante, isso está no livro ao nível do cão, ele a mastigar as figuras do presépio só porque acha piada, no fundo são estas coisas que passam, traduzida numa linguagem simples acessível para crianças com cinco e seis anos. A próxima edição do cão é na Holanda, vai ter experiências novas, vai andar na neve, foi o que ele fez, a comer neve, é um cão especial.
Quando começou a escrever o livro, isso remeteu-a a experiência do seu pai, no sentido, da dificuldade em escrever certas passagens, a angústia do escritor?
VSM: Sim, senti tudo isso. Embora sejam escritas completamente distintas e não são comparáveis. Mas, senti que havia passagens que não saiam bem, que não expressava o que pretendia, atendendo ao público a que se destinava. E portanto, retive algumas coisas. Esteve dois ou três meses quieto, houve leitura, reorganização e há reescrita de uma ou outra passagem. Há os acertos de redundâncias, retirar algumas expressões que se repetem fruto da linguagem, a acção, a colecção, um data de deles que é preciso retirar, sente-se responsabilidade. Não direi que seja do meu pai, é outra distinta.
Podcast
Eventos
-
MMI- Reabertura de aquário dos bacalhaus
17-09-2016
O Museu Marítimo de Ílhavo reabre o Aquário dos Bacalhaus, depois de um período de obras de...
-
Cineteatro louletano- Programa Dezembro
 12-02-2016
12-02-2016
No dia 15, sexta-feira, às 21h00, há uma estreia que resulta de uma coprodução entre o Cineteatro...
-
Teatro Baltazar Dias-Programa Dezembro
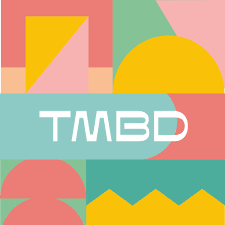 12-09-2015
12-09-2015
O último programa do ano que encerra como sempre com música... Feliz ano novo 2025...
-
CCVF e CIAJG- Concertos e Guidance
 06-06-2015
06-06-2015
A Oficina desvenda os primeiros dois concertos de 2025, a 18 de janeiro e 26 de fevereiro, no Centro...












