Yvette Vieira
O construtor de memórias marítimas


É um dos fundadores do movimento de poesia experimental portuguesa. É um performer que procura abordar o conflito do processo artístico através de diferentes materiais. É um artista que transporta consigo o imaginário de um rochedo no mar e o interpreta sob a forma de obras de arte. É Silvestre Pestana, um madeirense que retorna as suas memórias atlânticas uma e outra vez através das suas instalações artísticas.
Como define a obra que criou para esta mostra?
Silvestre Pestana: É uma obra diferente provém de uma linha que é a fotografia. Vem na tradição dos primeiros performers dos anos sessenta. Nessa época ainda não havia essa designação para essas actuações sociais com problemas artísticos. Depois no regresso da Suécia em 1970 volto as belas artes e nos anos oitenta começa a generalizar-se esta corrente artística. Desenvolveu-se um processo e uma acção que é parecida com a teatral, mas a intriga não é psicológica como no teatro, mas sim utilizando materiais que constituem esse conflito artístico. Saí em 1969 da ilha para seguir belas artes no Porto e passados 40 anos sou convidado institucionalmente para participar num projecto e enviar um original para depois ser apresentado na sua dimensão e mais tarde ampliado. Coloquei-me então esta questão, o que tenho para dizer passados estes anos todos? Não queria só falar da minha obra, não queria ser um artista que envia a suas peças para qualquer lugar. Decidi criar uma obra inserida na tradição do performer, uma actuação artística relacionada com o corpo. A matéria da arte e da acção artística é a problemática do corpo e nesta obra apresento apenas o tórax. De um lado um jovem que saiu, com o corpo de 20 anos.
O que regressa é um homem com sessenta anos. Portanto, é o meu corpo, a minha silhueta, é a minha impressão digital, porque quem regressa é este homem e não o outro. Por outro lado, tinha de ter uma problemática de segundo grau, que era o conflito, ou referência que tinha de construir. Uma intriga se quiser. O que eu tinha para contar? É o espírito de um objecto que neste caso é um colete que serve para vestir no tronco, na parte desnudada. Sendo insuflável é para extensão, mas ao mesmo tempo é um salva-vidas. Eu tenho assim um colete com as cores básica da ilha que é o amarelo e o azul e o outro com as cores da bandeira nacional. Não estou a falar de Estados, ou políticos. Estou a frisar as cores identitárias. O que fica é uma memória de amarelos, azuis, verdes e vermelhos. Abro o leque, são insufláveis e são dirigidos as crianças, porque se reparar são pequeninos. Uma criança que já foi, o homem que vai embora e a criança que vier apanha aquele objecto de ar. Esta é a interpretação do artista. E começa aqui a ambiguidade da arte que é dez significações para o mesmo objecto. Uma obra de arte que seja nominalista, não atinge o grau de clareza. Como a ciência. No caso da primeira, ela atende a uma declaração, a informação de precisão é declamatória. Ou seja, isto é! A arte pode ser um leque de possibilidades. A mesma história pode ser contada com vários elementos que são propostas pelos artistas e que as pessoas lêem como querem.
É por isso que vemos na sua obra um conjunto tão diverso e díspar de materiais, como no caso das águas vivas, que usam néon?
SP: Sim, é isso mesmo. Serve para contar uma história. Como estou longe posso idealizar uma Madeira que não tive, ou que já perdi. A exposição mais importante que tive e que foi recentemente reconstruída na Gulbenkian, chama-se ilhas desertas. É alguém que esta no Porto e tem um sonho sobre as ilhas. A Cooperativa Arvore que me endereçou o convite na altura disse-me que dispunha de três salas. E eu percebi que tinha três ilhas. Os néones que está a falar e que muita gente gosta são as águas vivas, designação que na Madeira se dá as alforrecas. Muita da na minha obra, são memórias atlânticas, sem serem literais, eu não represento a ilha literalmente.
A ilha influencia-o sempre? Como no caso das águas vivas?
SP: As águas vivas é uma instalação é a reprodução que é um aquário toda coberta de vidro e que dentro tem aquelas formas em néon, são sete e são acompanhadas por uma música especial de Jorge Lima Barreto, chamado néon, néon, ele faleceu infelizmente a cerca de um mês. Quando digo que o meu repertório é atlântico, é ilhéu, mas sobretudo é o imaginário de um rochedo sobre o mar. Eu sou um artista que com António Aragão e outros fundou a poesia experimental portuguesa, e este homem está muito esquecido, por razões que as pessoas lá sabem. Bem, ele fundou um movimento mais importante do século vinte e aprendi muito com ele.
As águas vivas são um impacto muito poderoso da memória da água. É uma instalação que precisa de muito espaço e de música e por talvez por isso as pessoas dizem que é muito contemplativa. Ou seja, entra-se e fica-se bem. Eu não faço figuritismo. Eu tenho um repertório marinho. O que se vê não é imitação de objectos da natureza. São construções intelectuais dessa memória. O que me interessa na minha obra, como a música o faz é transportar sensações, emoções e repertórios que a pessoa tem e que já tinha guardado e ela abre essa caixa e diz: lembro-me disto! Não é literal. Eu sou artista profundamente madeirense, sem nunca falar da Madeira.
E as ilhas desertas? Fale-nos um pouco delas?
SP: Uma das salas foi a instalação de que já falei, a outra era feita com caixas de radiografia pintadas, animadas com luz, eram doze que agora fazem parte da colecção de Serralves. A terceira sala era uma colagem de poemas visuais. As obras existem. Um artista gosta que sejam mostradas ao público desde que haja boa vontade.
Á sombra de lurdes castro


Foi recém-inaugurada uma pequena mostra da obra desta artista madeirense, patente na Galeria dos Prazeres, na Calheta.
Qualquer desculpa é boa para abordar à obra de Lurdes de Castro, para falar do seu mundo muito pessoal. É um trabalho artístico que assenta, segundo o estudo de Márcia Oliveira, “Lurdes de Castro, um caminho de sombra, “numa linha estética associada ao “ready-made” duchampiano, produzindo colagens, assemblages e objectos pintados com tinta de alumínio, cuja tridimensionalidade emergia de um espaço horizontal ou vertical. Foi disto que resultou naquilo que se viria a transformar no cerne da sua actividade artística: uma pesquisa constante em torno da sombra. Os contornos dos objectos pintados com tinta de alumínio viriam a originar as primeiras sombras realizadas pela artista em serigrafia.Posteriormente, estas sombras iniciais adquiririam novas formas, começando com as sombras projectadas e contornos e passando pelo “Grande Herbário das Sombras” ou pelos seus conhecidos “Álbuns de Família”, iniciados na década de sessenta e que continuam ainda hoje a ser completados”. Uma fase que a amiga de longa data e galerista, Maria Arlete Alves da Silva, acompanhou e recorda com emoção, “ para além de ser linda de morrer, sempre conseguiu criar um mundo mágico. Ela foi uma pessoa determinante na minha formação, porque nós podemos ser felizes e fazer os outros felizes com muito pouco”. O seu trabalho é prova disso mesmo, continua “há um despojamento até ficar só o essencial. Ela começou por juntar objectos do quotidiano, como colheres, conchas da sopa e pintar tudo com tinta prateada. Depois começou a pintar só os contornos das peças e cada vez mais só ficou a sombra de tudo. Eu ainda fico extremamente sensibilizada com esta depuração”.
A génese da sua obra reflecte esse ponto de vista, esse teatro da intimidade que aborda com enorme simplicidade e humildade, porque como Lurdes Castro afirmou recentemente, “ninguém liga as sombras, são de deitar fora, sempre gostei das coisas sem importância. Escolhemos consoante o nosso feitio. Tudo é impermanente e não há um igual ao outro. É preciso dar-se conta das coisas para não repetir”. E é dessa definição que “respira” o seu trabalho, do imutável que fica eternizado no material e que para a artista no fundo é entender que “nós somos natureza. Fazemos parte deste mundo, não há separação”. Afirmação que não é apenas um mero conceito vago, já que continua na sua pintura de 1 hectare, “ é a minha fala”. A sua casa, a sua vida, a sua verdadeira obra.
Um look muito cool
A Koollook é uma marca de jóias que associa o antigo ao futuro. Uma visão retro-futurista da sua criadora, Ana Magalhães, que se reflecte em peças com engrenagens mecânicas muito originais.
Reparei que nas suas colecções se inspira no retro, no gótico, o cyberpunk e no estilo vitoriano, porque a escolha desses nomes?
Ana Magalhães: Todas têm um elo comum, são estilos revivalistas. Pretendem associar o passado com o futuro. Criar uma proposta retro-futurista. Como se fosse um avião a funcionar a vapor. É inspirado na era vitoriana, no século XVIII, nessas engrenagens que transpomos para os nossos dias. Ou seja, em vez de computadores com chips, seriam com engenhos mecânicos. A edição vintage procura enaltecer o revivalismo, tem tudo muito a ver com o espírito de épocas passadas.
Reparei que utiliza por exemplo mecanismos de relógios nas suas peças, tem também como objectivo reciclar esses mecanismos?
AM: Sim, exactamente. Não utilizo apenas mecanismos de relógios, mas também teclas das máquinas de escrever mais antigas. Faço uma pesquisa na internet, porque em Portugal não se consegue obter essas peças. Tento comprar mecanismos antigos, que já não funcionam, sem qualquer tipo de utilidade, nem para aquela que foram criados. Assim, posso integra-las nas jóias. Adquiro, por exemplo, as teclas, elas são retiradas previamente das máquinas e são recicladas, criando desta forma um novo acessório de moda.
A quanto tempo tem a Kollook?
AM: A Koollook é recente. Tem cerca de um ano. Embora tivesse outro tipo de peças, não havia essa diferenciação. A partir do momento que registei a marca, comecei a criar estas jóias, porque gosto e porque entendia que ao nível nacional, havia um nicho de mercado para este tipo de acessórios. Daí a aposta nessa diferenciação.
Como tem sido a aceitação do público em relação a estas jóias?
AM: Em termos de público, a aceitação tem sido boa. Tenho as jóias á venda em algumas lojas no Porto, em Coimbra, na Figueira da Foz e no Marco de Canavezes. Têm corrido muito bem, porque são peças tão diferentes do habitual, a meu ver, foi isso que cativou as pessoas. Tanto assim é, que são algumas lojas a contactaram-me no sentido de expor apenas o meu trabalho.
Viver é pintar

O Ara Gouveia pinta as suas telas há mais de quarenta anos. Um impulso de que tomou plena consciência desde a sua adolescência e que preenche os seus dias até hoje. Embora a sua pintura seja abstracta, ele gosta de dizer que faz bonecos. Pinta por gosto e porque lhe apetece. Gosta da cor na sua expressão mais viva, porque não aprecia os tons baços, quer na sua pintura, quer na vida.
Acha que a sua obra é influenciada pela natureza, uma vez que, vive e trabalha no Porto Santo?
Ara Gouveia: Se assim parece é inconsciente. Se vê inspiração na natureza é possível, mas eu não penso muito nisso. Evidente que olho muito para a natureza, sou um observador por natureza e defeito, porque sou professor de desenho e sou obrigado a dissecar o meio natural. Portanto, é aquilo que vemos mais e também falo de tudo o que nos rodeia. Como o sol, o vento, como as plantas e os animais. Tudo isso impressiona-me. Que isso se reflicta quando pinto, talvez, não digo de não.
Então o que o inspira a pintar?
AG: Nada me inspira. Faço o aquilo que me passa pela cabeça. Não sei o que é isso de inspiração. Planeio fazer um grupo de trabalho, que podem ir até os dez, no máximo. Depois mudo. É planeado com os meus sentimentos, com o meu coração e com o meu estômago. Depois começo a pintar e esqueço-me do resto. Lembro-me de ter vivido na Calheta e a paisagem que tinha a minha frente era o mar e o céu. Eram 180 graus de paisagem, desde o nascer ao pôr-do-sol. Toda essa cambiante, todo o uso da cor impressionava-me muito. Eu tirava muitas fotografias sobre as cores e os planos. Posso afirmar que os dessa altura, se calhar eram influenciados pela natureza, mais por isso. Era cores muito planas e lisas.
A cor é importante na sua obra, são muito vivas. Tem algo contra as cores mais baças?
AG: Tenho. Do mesmo modo que tenho contra quando as pessoas são baças. (risos)
Têm uma carreira longa…
AG: Comecei com os quinze anos, já no liceu, expus uns riscos. Depois mais tarde, um ano ou dois depois, numa galeria. A partir daí foi para o Porto e segui o percurso de qualquer artista.
As cenas dos próximos capítulos

O design de produção é uma das áreas mais importantes para a criação de ambientes cénicos.
Excepcionalmente neste texto vou abordar os cenários, embora não sejam arte propriamente dita, são um elemento fulcral para a recriação dos espaços onde a acção de um filme decorre, onde os actores se movimentam no teatro e que aparecem também nas cenas das telenovelas que assistimos diariamente. São importantes porque como referi anteriormente, ajudam na contextualização de um determinado ambiente específico, ou seja, de uma forma não verbal auxiliam o espectador a situar-se em termos de tempo. É um misto de ilusão e realidade que nos filmes ganha peso, pelo aspecto visual inerente a este tipo de arte e devido ao elevado grau de exigência dos espectadores. Os adereços complementam esse universo e muitos deles acabam por se tornar mesmo icónicos. Para tal basta relembrar, as espadas lazer dos jedi, na Guerra das Estrelas. Ou o celebre chapéu de coco e a bengala que notabilizaram Charlie Chaplin.
Actualmente todos esses elementos de ficção são tão importantes que já existem toda uma série de profissionais de design que criam estes pequenos apontamentos que em conjunto servem para contar uma história. A cenografia é uma área altamente qualificada, muitos dos espaços que vemos em séries de televisão ou nos filmes são idealizados de raiz pelo chamado designers de produção. Estes profissionais, tem que ter consideração vários aspectos importantes: a iluminação é mais importante, porque enfatiza um determinado pormenor para o qual queremos chamar à atenção, ou pelo contrário pode realça-lo de forma pouca lisonjeira, as actrizes sabem disso melhor do que ninguém. O ruído na comunicação é outro dos aspectos a ter em consideração, por exemplo, as famosas riscas que são de evitar, criam confusão visual no ecrã e distraem o espectador do essencial, a mensagem. As cores também são de destacar, existem tons que cansam o espectador se forem muito vivos, ou pelo contrário criam um ambiente mais carregado de dramatismo, dependo do objectivo da cena. Por último, a escala, um cenário tanto pode ser gigantesco, ao ponto de se criarem cidades cénicas que vemos com frequência nas telenovelas brasileiras. Como podem ser diminutos e filmado para parecerem maiores. Sabiam que as famosas batalhas no espaço do Star Wars foram filmadas com pequenas maquetes muito pormenorizadas para parecerem os mais reais possíveis? O facto é que todo este trabalho requer um conhecimento profundo em diversas áreas. Nada pode ser deixado ao acaso, porque o espectador nota sempre, certo?
http://www.pedromoura.co.uk/Screenshots.html
As bandeiras da universalidade


Lonarte é um evento artístico que visa criar um elo de ligação entre o público e a arte. São lonas gigantes, espécie de estandartes da expressão artística que acompanham a linha da costa da praia da Calheta.
Porquê a escolha das lonas?
Luís Guilherme de Nóbrega: A questão da lona tem a ver com a facilidade que é a escala. Quando queremos que arte chegue a um público e estamos a falar da arte pública, na rua, temos de utilizar um material que seja resistente e possa corresponder ao que pretendemos apresentar. Se for de tecido facilmente se rasga devido ao vento. Esta zona tem esse tipo de condicionantes atmosféricas. É um material que se pode imprimir, transportar o projecto do artista para a escala desejada e expô-la na praia. Este projecto tem muito a ver com isso. A Lonarte é isso, a utilização da lona como suporte para arte. O próprio nome tem a ver com isso.
Após uma primeira edição qual é a percepção que ficou para esta segunda.
LGN: Ganhou-se muito com a experiência. Uma delas é acrescentar um segundo projecto, para além do Lonarte que é específico para artistas, apostamos no Mais Calheta que é outro sentido de visualização. Como vimos que o projecto inicial teve sucesso, porque as pessoas vieram até a praia e os turistas mostraram curiosidade pelas lonas e até um certo espanto por um evento deste género ter lugar num local como a Calheta. Este tipo de demonstrações artísticas aparece em locais mais vanguardistas, onde o público está mais sensibilizado para esse tipo de iniciativas.
Criastes a Lonarte a pensar num público que por norma não se desloca até as galerias foi por isso que decidistes traze-la até à rua?
LGN: Tenho a certeza disso. É um pouco como o que aconteceu com a Galeria dos Prazeres que foi sugerido pela Patrícia Sumares. Tratava-se até então de uma zona onde as pessoas não iam ver arte, mas sim ver animais e beber chá. Ou se aproveita um local onde o público já existe e esse facto vai criar mais atenção para a arte e incutir esse gosto, esse hábito. Ou fazer algo mais arriscado, que é criar o espaço e atrair o público e aí temos de investir muito e com muita qualidade, porque são necessários anos para instruir uma audiência. Uma instituição museológica leva vários anos a criar o seu público, só para citar um exemplo. Aqui existe esse factor, as pessoas vêem as lonas, tiram um folheto para conhecer a obra do artista. Acedem até ao link que oferecemos. É criar um gosto pela arte.
Os madeirenses são sensíveis à arte?
LGN: O feedback que tenho é sempre muito positivo, consideram o projecto muito aliciante, pela qualidade dos artistas que são apresentados quer os nacionais, internacionais e locais. Os artistas acabam por criar, tendo em conta o ambiente onde são colocadas as lonas. Por exemplo, no ano passado, o Pedro Proença faz uma alusão às raparigas com o biquíni na praia. Ele ao fim ao cabo o que faz? Usa a sua criatividade para comunicar este ambiente, o que acaba por mostrar ao público que a arte está muito próxima de nós. Os artistas agora procuram essa ligação, antes de criarem eles acedem ao blog e preocupam-se cada vez mais em elaborar um projecto tendo em conta o local.
Catarina, a grande
Desde sempre utilizou a pintura como forma de expressão das suas vivências e do meio que a rodeia. Uma manifestação artística expressa nas tonalidades fortes das suas obras e nas várias dimensões do invisível que sublima através de suportes alternativos. Uma artista com um percurso gradual e seguro no mundo de arte português.
Falemos um pouco na exposição “little wings”. Nesta mostra há uma espécie de reconciliação com a figura humana que tinha desaparecido por completo num período anterior, porquê?
Catarina Machado: Eu penso que foi uma necessidade de exprimir. Comecei muito com a geometria quando tirei arquitectura, por isso eram trabalhos muito geométricos, depois houve uma libertação dessa parte mais rígida para obras mais saturadas e mais soltas, ligados mais a linha e a mancha de cor. Nos anos 90, cheguei a explorar bastante a figura humana e desde aí houve uma necessidade de voltar, mas só como mancha, como contorno, como a sua silhueta e usando sempre a cor azul e a vermelhas que são duas tonalidades que estão sempre no meu trabalho.
No entanto eu notei uma evolução na cor, embora sejam fortes eram mais escuras e agora são mais claras.
CM: Sim é verdade, também apostei nos fundos brancos que dá para fazer respirar as cores todas. No fundo comecei por saturar e agora estou sempre retirando, retirando para depurar.
Porquê o título?
CM: É uma música do Jimmy Hendrix, mas eu gosto mais da versão do Sting que canta em espanhol. É uma história muito bonita e eu decidi juntar a música com essa parte de literatura. Cada título é um excerto da letra, que fala muito de “moving in the clouds”, têm a ver com a natureza, o amor, com a alegria. E foi assim um todo juntar as duas coisas.
Procura inspiração para as suas obras através da música?
CM: Não é o meu hábito, embora eu trabalhe sempre com música, porque ela é a minha companhia e o meu cão. Aliás, ainda acrescentei mais dois painéis dedicados à música nesta mostra. Um deles foi o tema “blowing with the wind”, da Carol King e outro que foi o “Just like heaven”, dos Cure, porque a letra tinham a ver com a figura de um homem e uma mulher. O que me inspira mesmo, a maior de todas, é o oceano e as minhas vivências. Desde pequena que vivo junto ao mar, pratico surf . Esse contacto quer fisicamente, quer visualmente é que fazem com que eu procure transmitir essa energia e tudo o que comunica- a força, o movimento, a linha, o turbilhão e a água que é um elemento que tenho vindo a explorar. Nesta última exposição interacções que terminou o mês passado, foquei a continuidade da silhueta que começou com o “little wings”, a minha própria imagem reflectida na água de uma piscina. Foi a maneira que encontrei de continuar a explorar este tema, só que em outro suporte.
As voltas da piura


É uma marca nacional de mobiliário que aposta num design que mistura o tradicional com a actualidade. Um projecto encabeçado por Rui Viana que visa o crescimento sustentado da marca, tendo em vista num futuro próximo a sua expansão no mercado internacional.
Afirma que no seu design há uma dialéctica entre o passado e o futuro de que forma efectua essa abordagem, é através dos materiais?
Rui Viana: É através dos conceitos. A base de algumas colecções é a dialéctica entre o mais tradicional e o moderno. Tem a ver um pouco comigo, o sítio onde nos nascemos, crescemos e estamos habituados a lidar. Neste caso, pertencendo eu, a uma família com alguns artesãos. Eu sou da Póvoa, uma terra de pescadores, tenho um pai carpinteiro e um avô marceneiro. Estas memórias vêem connosco e por causa disso, lidar com as oficinas e a própria entidade cultural tudo isso acaba por reflectir-se nas colecções.
Estava a lembrar-me da peça de mobiliário das sete saias.
RV: Sim, apesar de não ser uma tradição poveira, mas sim da Nazaré, é também uma comunidade piscatória. Por exemplo, a colecção dos tapetes reflecte esse conceito, são tradicionais e feitos a mão numa freguesia da Póvoa, são os tapetes de Beiriz, são diferentes por causa do tipo de nó. E decidi aplica-los no mobiliário, porque é algo que faz parte da minha infância, de familiares de amigos meus que trabalham com este tipo de materiais artesanais, tudo isto não é por acaso. É mais uma referência cultural, um trabalho artesanal que decidi usar. Resumindo, o meu trabalho tem a ver com a forma como crescemos e com tudo o que está a nossa volta, transferindo-o para um conceito de mobiliário contemporâneo.
Afirma no seu site que o seu trabalho é indefinido, isso é porque não gosta de atribuir rótulos a aquilo que faz?
RV: Tem mais a ver com o surgimento da marca. Isto foi um desafio que propus à empresa onde trabalhava e era indefinido porque não sabíamos como é que ia correr, digamos qual seria a reacção do público. Havia questões que iam surgir ao longo do tempo, eu nunca tive uma marca, nunca vendi móveis directamente e nunca tinha desenhado colecções. No fundo era a criação da marca e havia essas indefinições porque não sabia como iria ser aceite. A indefinição tem também a ver com o nome, Piurra é género de pião, eram os brinquedos que o meu avô fazia. A ideia de retorno ao passado, de lançarmos o pião. Tinha a ver com a marca, porque decidimos lança-la desta forma e correu bem. Se corre-se mal, mudávamos de direcção, de estilo. Daí a palavra indefinição também, ou seja, a procura constante do sucesso comercial da marca.
A marca de ilda

Ilda Reis foi uma das artistas mais influentes na arte da gravura e da serigrafia em Portugal. A escolha dos temas orgânicos e as cores vivas marcaram profundamente a sua obra de quase três décadas de existência. Uma carreira que apesar de ter sido reconhecida internacionalmente, nunca foi fulgurante no nosso país devido a sua personalidade recatada, como descreve a sua filha, Violante Saramago Matos.
O que gosta mais da obra da sua mãe?
Violante Saramago Matos: Eu gosto particularmente da obra gráfica, isto é das gravuras que idealizou. Ela começou pela pintura, depois escolheu a gravura, mas a partir de uma certa altura teve que deixa-la, tornou-se difícil de continuar, porque a arte da gravura é muito dura, muito exigente fisicamente, as prensas naquela altura eram muito pesadas, hoje em dia já existem máquinas eléctricas. Eu ainda tenho uma prensa da minha mãe que é um peso brutal, era tudo a mão, uma placa de ferro com imensos quilos que era preciso mover a força de braços. E a minha mãe deixou de ter força poder fazer gravura e a própria arte de gravar a chapa é muito exigente, por isso ela retornou a pintura. Mas, o francamente acho que aquilo que é extraordinariamente bom na minha mãe foi a gravura. Há delas que são qualquer coisa de maravilhosa, em particular as de metal. Existem também algumas peças em madeira que são muito boas e algumas em cobre.
Acha que lhe fizeram justiça como artista?
VSM: Não, mas a minha mãe tinha um “péssimo feitio”. Ela teve propostas, e não vou dizer de quem, porque ela nunca quis que se soubesse, de galerias, mas é preciso frisar que o conceito hoje de galeria é muito diferente, são espaços mais abertos, naquela época e estamos a falar dos anos 60 e 70, as galerias tinhas artistas “próprios” e ela nunca quis isso, e teve duas propostas nesse sentido, que queriam que ela trabalha-se com eles e eu nunca percebi porque ela nunca aceitou, a verdade é que não o fez.
Terá sido pela sua natureza extremamente independente?
VSM: Eu penso que não. A minha mãe era uma mulher curiosa, independente, mas acima de tudo era uma pessoa extremamente tímida. Eu acho que aquilo que a impediu foi um misto de duas coisas, por um lado que se estava a vender a um comércio de arte, que eu acho que não era verdade. E por outro, porque tinha a ideia que se produzisse uma obra menor poria em causa o nome da galeria e devo acrescentar que ela nunca mo confessou. É a minha percepção. Falando de uma altura em que havia esta extrema ligação galeria/artista, é preciso ver que estes espaços “faziam” os artistas de certa maneira, se não fossem bons claro que não eram conhecidos. A Paula Rego, por exemplo, teve uma grande ligação a 111 e não há dúvida de que houve uma grande sinergia entre os dois. Mas, a verdade que havia esta dualidade de interesses que convergiam na promoção de trabalhos de qualidade e minha mãe sempre fugiu disto, e penso que foi por isso que ela não foi cotada e reconhecida como deveria.
Não foi pelo facto de ser uma mulher no mundo do grafismo?
VSM: Eu penso que não. A Paula Rego é mais nova, mas não é assim muito mais nova e foi a mulher que foi, a Meneres foi a mulher que foi e a Lurdes de Castro. Havia muitas mulheres a gravar. Estou convencida que esta recusa sistemática é que a prejudicou.
O fazedor de coisas

É um provocador na forma como aborda a arte. Mas, não gosta de rótulos, o que pretende é criar leituras diferentes através das peças que expõe. É um experimentalista de materiais. O seu nome é Sílvio Cró, o senhor que se segue…
Verifico que arriscas muito no tipo de arte que fazes, utilizas materiais pouco usuais no teu trabalho, como por exemplo a silicone. É uma decisão consciente?
Sílvio Cró: É verdade. Aquilo que faço não tenho pretensão de fazer como obra de arte, mas faço como fruto de uma ideia. Uma ideia que traz uma mensagem, que têm um conteúdo, que eu quero de uma forma pertinente ou não, directa ou não, de passar ao outro. A arte é isso mesmo. Quando faço um trabalho não quero guarda-lo para mim, se o pretender guardar, claro que o deixo num caderno, ou numa folha. Deixo um registo basicamente e não parto para a prática. O que faz com que a arte seja um pouco egoísta ao não passa-la para o público. Para mim, vejo a arte egoísta, quando tenho uma ideia, registo essa ideia e guardo para mim só. Desde o momento que a materializo e passo cá para fora automaticamente ela não é só minha, alguém já a viu e já fez um comentário positivo ou negativo, cada um tem a sua maneira de comunicar, não se pode agradar a todos. E a arte não é agradar. Quando é feita para o agrado, entra numa fase de degradação, porque ela não desempenha o seu papel e fica condicionada. Eu sou professor, costumo dizer que é o meu ganha-pão, eu tenho um ordenado no final do mês, é natural que uma pessoa que quer viver da arte, enveredar por esta área vão aparecer outros obstáculos. A própria pessoa pode facilitar esses entraves, porque se sou uma pessoa que tenho a arte como a forma de ganhar a vida, tenho um público e que dou-me ao luxo de fazer o que gosto e eles aceitam, se eu ganho com isso, estou a aliar um gosto, uma personalidade e um agradar o outro, sem desagradar a minha pessoa, aquilo que estou a passar é fruto daquilo que quero fazer. Matematicamente estou aliar o meu trabalho e o público gosta de vê-lo.
Mas, é arte quando o artista cria e ninguém gosta ou entende? Continua a ser arte mesmo que a mensagem não passe para o público?
Sílvio Cró: A mensagem passa sempre para o público de uma forma directa ou indirecta. Quer agrade ou não. Eu sou das artes plásticas, mas vou dar um exemplo sobre a música. Eu tenho o gosto de cantar, eu posso faze-lo em casa, eu posso gravar a minha canção e guarda-la. Desde que decida coloca-la numa rede social, alguém vai ouvi-la, nem que mais não seja por que está lá, já não é minha, faz parte de um manancial de realidades. Agora se eu guardar para mim, ninguém ouviu. Para o artista, ou do fazedor de coisas é o mesmo. Se mostro a alguém que me é mais próximo, ou se passar cá para fora numa rede social mais ampla, naturalmente eu vou agradar ou desagradar. A mensagem passa, logo é arte. É o meu prazer de fazer as coisas que provoca no outro, ou não, o prazer de aceita-las.
Mesmo que não provoque qualquer prazer ou lhe seja indiferente ainda é arte?
Sílvio Cró: Aí está, quando se rompe com estruturas, rompemos com uma dialéctica que foi instituída e que todos nós falamos do mesmo modo. Se eu utilizar uma linguagem que está fora dos padrões pré-estabelecidos, automaticamente o que acontece? Ou vou ser ouvido porque é diferente, porque querem aprender, querem saber até onde esta diferença vai. Ou então simplesmente ignoram. O ignorar, também é uma forma de não valorizar. Nos meios pequenos, e isto é um meio pequeno, eu grito aqui, e nem todos ouvem, mas as pessoas mais próximas sabem quem gritou, porque ouviram. Logo passam a mensagem que ouviram uma grito. E questionam a pessoa: porque deste grito? As perguntas que surgem desse gesto, também se aplicam a arte. Como quando questionou a pouco o porque de eu usava um material tão inusual como o silicone numa pintura. Eu queria dar-lhe uma outra plasticidade, a arte é isso, arriscar com ideias e formas. Eu estou a reforça-la, devido ao material que estou a usar e só por si aquele material têm uma informação. Tudo o que faço transmite informação. O material pode até não estar inserido naquele contexto e é aí que esta a piada. Há uma intenção técnica também. O saber fazer, usar um método ir por esta via e não ao contrário, haver uma sequência. Os métodos são isso mesmo. As pessoas também, através de diferentes etapas podem chegar a determinado fim. Se ao longo dessas etapas, eu rompo o estabelecido e introduzo um material ou técnica pouco adequada, mas adequada ao procedimento, automaticamente isso cria um observar, um público, mesmo aquele que ignora teve de observar para chegar a essa conclusão. Não somos alheios as nossas vontades. Eu posso não ter vontade de ver, mas posso opinar sobre aquilo que vi e dizer que não gosto. Podem enviar uma informação que não estavam à espera, mas entrei em contacto com essa pessoa. A realidade visual é isso mesmo.
O facto de seres ilhéu limita-te como artista? Tendo estudado cá e sendo aqui neste espaço geográfico que desenvolves o teu trabalho, isso de alguma forma limita?
SC: O limite é criado pelas próprias pessoas. O estar dentro de um quarto, o limite já está implícito. A internet passa facilmente essa mensagem, mesmo sendo tímido e não querendo me expor, mas de uma forma própria passo a informação que pretendo sobre o meu trabalho lá para fora. Eu uso o facebook para passar certas mensagens e obras que, no meu entender interessam ser divulgadas. As pessoas nestas redes sociais estão mais interessadas e activas e vão ver o que é. Não são limitativos, a internet veio a ajudar nesse sentido.
Sim, mas antes do facebook, antes sequer de a internet ser usada como ferramenta de promoção, não te sentiste limitado?
SC: Talvez porque nunca segui coisa nenhuma, acabou por não me criar limites. Nem nunca tive essa ideia. Quando digo que o limite está dentro de ti, é porque tu crias esses limites e as tuas lacunas. As pessoas apenas fazem parte da tua vida para sedimentar o teu percurso. Umas vão facilitar esse trilho e vão-te dar a mão, outras não. E dentro desta estrada que se chama viver, há muitos trilhos, as vezes arriscas e não sabes para onde vás. Desde que me conheço que fui sempre assim. Sempre fui visto pela crítica como um artista diferente, a questão da diferença sempre me acompanhou. Já em pequeno, no jardim-de-infância, eu desenhava e as pessoas comentavam e nunca estava preocupado com isso. A minha única preocupação é fazer. O trabalho só aparece se alguém o faz. E nunca me questionei pelos mesmos motivos, se este espaço da ilha é limitativo. Tudo bem se eu for para outro ambiente e tenho que me inserir. Logo vou conhecer pessoas, mas até elas me podem criar limites ou contrições que eu pensava que a ilha me estava a provocar. O meio influencia muito a pessoa e eu conheço este.
Podcast
Eventos
-
MMI- Reabertura de aquário dos bacalhaus
17-09-2016
O Museu Marítimo de Ílhavo reabre o Aquário dos Bacalhaus, depois de um período de obras de...
-
Cineteatro louletano- Programa Dezembro
 12-02-2016
12-02-2016
No dia 15, sexta-feira, às 21h00, há uma estreia que resulta de uma coprodução entre o Cineteatro...
-
Teatro Baltazar Dias-Programa Dezembro
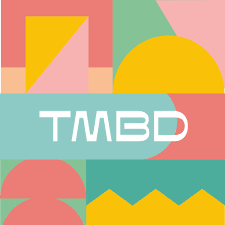 12-09-2015
12-09-2015
O último programa do ano que encerra como sempre com música... Feliz ano novo 2025...
-
CCVF e CIAJG- Concertos e Guidance
 06-06-2015
06-06-2015
A Oficina desvenda os primeiros dois concertos de 2025, a 18 de janeiro e 26 de fevereiro, no Centro...









