Yvette Vieira
O ar dos tempos

São algumas peças de alguns designers portugueses que seleccionei para recordar algumas das tendências desta primavera-verão.
Como já vem sendo hábito todos os anos são anunciadas as cores e as tendências para a estação que se aproxima. Esta primavera-verão promete ser uma verdadeira avalanche de tonalidades inesquecíveis e de sonho.
Uma das minhas tendências preferidas são os bilhos diurnos que aparecem em peças maravilhosas da colecção de Alves/Gonçalves sob o tema “celebration” dos 20 anos de Portugal Fashion, na passarele vimos prateados, dourados e acobreados que marcaram de forma indelével peças esvoaçantes que deixavam antever uma silhueta fluída, que transpira liberdade de movimentos, definitivamente ultra-feminina.

Mean by Ricardo Pietro, o mar, os pescadores, as aldeias da costa marítima portuguesa, são o porto de partida desta coleção. Um misto de sereia, guerreira, urbana e toda a delicadeza do corpo feminino. Silhueta de linhas geométricas e fechadas, colantes ao corpo, que contrapõem com linhas fluidas e soltas, como as ondas do mar enovelam na areia. Matérias orgânicas com lavagens de ozónio, malhas em lycra com bordados de lantejoulas nacaradas que ementam as escamas radiosas do nosso peixe, e redes de algodão que celebram a pesca tradicional. A paleta de cores é inspirada na vida marítima através dos seus azuis, verdes, amarelos com apontamentos de preto.

Os Storytailors voltaram a inspirar-se em histórias tradicionais portuguesas e desenharam uma coleção, denominada “Unbreakable”, em que as silhuetas estão marcadas pelos elementos ar e água, pela porcelana e a azulejaria e pelo casamento entre arte e ciência. As suas princesas etéreas e diáfanas continuam a marcar a estação em que as cores azul e branco estiveram presentes em muitas das peças desta colecção inquebrável. As sedas e os corpetes, as suas imagens de marca, continuam a deliciar as fãs que apreciam as “bonecas de porcelana”, as meninas-mulheres dos contos de encantar dos storytailors.
Retratos da fundação

É uma colectânea de pequenos livros compilados pela fundação Franciso Manuel dos Santos sobre Portugal.
Acima de tudo cada um dos seis volumes desta compilação são diferentes abordagens sobre o país descritas por profissionais da comunicação. Cada livro versa uma temática sobre o Portugal contemporâneo, são uma espécie de grande reportagem, mas que também reflectem o ponto de vista pessoal de cada autor. Os temas versam sobre saúde, agricultura, ruínas arquitectónicas até uma viagem a pé pelo país profundo. São leituras acessíveis que nos permitem ter uma visão de 360 graus de um país que afinal luta contra diversos males, a desertificação do interior motivada pela emigração, o abandono da obra edificada e classificada ao longo dos séculos, as mudanças sociais e económicas fruto da entrada de Portugal na União Europeia, as limitações e os triunfos do nosso sistema de saúde e finalmente saber quem são afinal estes portugueses? O que notei? Que não existem cenários estanques, nota-se que há uma sociedade que evoluí, que esta em permanente movimento, se a mudança é para melhor ou pior depende da opinião de cada um. Não pensem que são retratos desencantados, muito pelo contrário, são acima de tudo relatos pungentes de cada um dos nossos interlocutores, perante o que vê, sente e em última instância reflecte sobre esse confronto entre a realidade pura e dura e o ideal de nação. Poderia abordar os volumes que mais gostei, mas decidi não o fazer, para não influenciar a vossa potencial leitura. Só peço que é que leiam.
O coreógrafo do subtil

Rui Lopes Graça fui bailarino e actualmente, coreografo para a Companhia Nacional de Bailado (CNB), como coordenador de projectos especiais, bem como para o Ballet Gulbenkian, a Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, o Ballet du Rhin em França, a Companhia Nacional de Canto e Dança de Moçambique, a Companhia de Dança Contemporânea de Angola e ainda a Companhia Rui Lopes Graça. Para além da sua actividade como coreógrafo, é convidado regularmente a leccionar na Escola Superior de Dança e na Universidade de Stavanger na Noruega. Mais recentemente coreografou o espectáculo “Bichos”, baseado na obra literária de Miguel Torga, do grupo “Dançando com a diferença”.
Como coreógrafo o que nota que mudou nestes últimos 30 anos na dança em Portugal? A companhia de bailado da Gulbenkian foi extinta, os apoios à cultura diminuiram ao longo dos anos e até se fala que não há um público para o bailado clássico.
Rui Lopes Graça: Houve mudanças incríveis. Há 30 anos a dança não tinha a projecção que tem hoje em dia na sociedade. Havia até um certo tipo de dança que era conhecido, na época, através da companhia de bailado da Gulbenkian e que era apenas uma faceta do que representava o movimento da dança ao nível mundial. Com os eventos Acarte houve toda uma geração que coreógrafos e bailarinos que começaram a surgir e a viajar, a conhecer outras realidades e a transformar o movimento de dança no nosso país. O que acontece hoje em dia é que a dança esta muito bem representada, tanto ao nível de formação, como de criação apesar de termos muitas poucas estruturas de dança, que não são em grande número. Ao nível da formação no Conservatório Nacional temos dançarinos que tem um mercado de trabalho tanto em Portugal, como fora do país. A ideia que não se formam bons intérpretes em Portugal é uma coisa do passado, o que acontece actualmente é que a quantidade de pessoas que saem formados das escolas, em termos nacionais, não tem mercado para absorver tanta gente. Ao mesmo tempo na dança proliferaram outros conceitos e outras estéticas...
Fala da dança contemporânea?
RLG: Falo da dança contemporânea em todos os seus cruzamentos e vertentes possíveis, porque a dança mudou muito em termos criativos nos nossos dias. Isso reflecte-se em Portugal, não somos um país tão fechado ao exterior como estava há vinte anos, ou mesmo trinta anos. O grande problema que temos, não é em termos de intérpretes ou criadores, mas sim da possibilidade de desenvolver trabalho. Existem poucas estructuras, quase não há companhias a não ser de autor, que não é a mesma coisa que companhias de repertório, em que vários coreográfos podem desenvolver trabalhos com os bailarinos e é esse o nosso grande dilema. Em relação ao público, sou da opinião contrária há muito público para a dança, se num espectáculo isso não existe, deve-se tentar perceber o porquê, as pessoas tem uma enorme apetência pelos espectáculos de dança e então de ballet clássico nem se fala, basta dizer “lago dos cisnes” e a lotação esta sempre esgotada, pelo menos na CNB. É mais difícil para as companhias contemporâneas, porque para ver os clássicos há uma tradição mais enraízada, do que para coreografias mais avançadas, depois também depende dos coreográfos e das campanhias.
Nem quando se fala de um público urbano que esta mais sensibilizado, do que um que vive fora dos centros das grandes cidades.
RLG: Mas, isso é normal. Se as pessoas não estão sensibilizadas para um determinado tipo de eventos é necessários fazer isso. Se eu for para um sítio onde não há uma grande apetência pelos espectáculos de dança, eu tenho de criar um mecanismo diferente de divulgação e incentivo para que as pessoas vão ao teatro e se calhar depois de verem dificilmente não gostarão, a não ser que sejam propostas tão, tão específicas, tão fechadas num determinado tipo de gosto que só possam ser apresentadas num determinado circuito, mas aí é um erro levar essas propostas para esses sítios.
Quando abordou que faltam estructuras em Portugal para a dança refere-se aos teatros?
RLG: Não, refiro-me as companhias, porque teatros temos muitos. Temos também é uma carência de programadores, embora haja bastantes em Portugal, acho que muitos são muito seguidistas, existe um número reduzido de profissionais que programa de uma determinada forma e os restantes seguem essa mesma linha, como se estivessem a formatar um certo tipo de gosto e temos uma carência de agentes culturais que tenham um gosto próprio, esse é um aspecto. O outro é que há uma grande carência de estructuras para o trabalho de dança, companhias com centros coreográficos onde se possam desenvolver projectos e apoio financeiro para que possam ser desenvolvidos, não ser apenas para alguns nomes mais conhecidos e que possa abranger o maior número de pessoas. Depois temos a situação precária dos intérpretes no nosso país, nomeadamente a falta do estatuto do bailarino em Portugal. O não haver o reconhecimento de que se trata de uma profissão de desgaste rápido, toda a gente o acha, mas não no papel, não é reconhecido pela lei. Todos estes aspectos contam para o reconhecimento da profissão e do seu desenvolvimento.
Em termos do estatuto do bailarino o que é necessário reconhecer?
RLG: Quando é que um bailarino acaba a sua carreira? Como é que se reforma? E quando termina a sua carreira contributiva? Repare, um controlador áereo não se reforma aos 65 anos, assim como, as bordadeiras na Madeira que é considerada uma profissão de desgaste rápido, mas um bailarino não e ele dá cabo do corpo. É uma profissão de alto risco, já tiveram operações, tem dores nos músculos todos, partem ossos muitas vezes em palcos sem condições e actualmente a reforma para um bailarino é até os 55 anos, mas alguém dança até essa idade? Não. As pessoas devem ter condições de segurança, seguros especiais para este tipo de profissões, possibilidade de se reformarem aos 40 anos, por exemplo, e depois terem a oportunidade de reciclarem a sua vida. O que se esta a reformar aqui é o corpo. A sociedade deve um reconhecimento a estas pessoas, porque graças a elas é que essas profissões criativas existem.
Refere-se em termos legislativos?
RLG: Há muito trabalho feito, não esta é estabelecido, acredito que estará, mas actualmente estámos em contra-ciclo porque quando se fala das reformas pretende-se que as pessoas o façam mais tarde, não mais cedo.
Quando fala que é necessário criar centro para coreográfos, é por esse motivo que os profissionais tem de sair de Portugal?
RLG: Eu vou trabalhar fora quando me convidam e isto é a realidade de um criador em todas as áreas. Mesmo que houvessem muitos centros, ou companhias em Portugal que me convidassem para coreografar, eu nunca iria deixar de aceitar convites vindos do estrangeiro, porque é importante o nosso trabalhar chegar a outros sítios e a outras pessoas. É a ideia de globalização da arte, da criatividade é chegar o mais longe possível. Na realidade em Portugal não existem companhias para dar trabalho e satisfazer o público que procura espectáculos de dança, porque há muito mais do que possámos imaginar, o que é preciso é alimentá-lo, se damos pouco de cada vez e de forma irregular naturalmente perde-se o hábito do consumo desse espectáculo.
Para que os centros possam acontecer no futuro o que é necessário que aconteça?
RLG: É necessário que alguém tome a iniciativa. Já existem sítios em que se promovem projectos de acolhimento e desenvolvimento, mas é necessário mais pelo país todo, é preciso apoio para isso. Também são necessárias comissões para que se possam criar espectáculos e fazê-los circular pelo país.
Numa altura em que os apoios estatais são escassos acha que é preponderante mesmo sendo pouco ou nenhum? Muitas companhias defendem o Estado não devia ajudar as artes, aliás, que prejudica, porque os apoios quando existem são sempre para os mesmos, no entanto há quem defenda o contrário e ache que as artes necessitam sempre de incentivos públicos?
RLG: As artes precisam sempre de apoio público, porque se não fosse assim só se fariam espectáculos em função do ganho e as propostas artísticas nem sempre trazem público. A quantidade de pessoas não atesta a validade de um projecto, também não é porque a sala esta cheia que a obra é muito boa, portanto, se é dado dinheiro para a investigação e o desenvolvimento de outras áreas, como a ciência, onde se investe para encontrar algo que mais tarde vai ser usado por muitos, nas artes é a mesma coisa, há um investimento, porque isso é o futuro, mesmo que não saibamos qual vai ser o resultado. Temos muitos criadores cujo trabalho é exactamente esse, que é abrir o caminho e quando se faz isso, não se enche teatros, porque estámos a procurar e as pessoas ainda não reconhecem esse percurso. Assim, estas estruturas necessitam de apoio para desenvolver os seus projectos. Um espectáculo não é válido apenas porque enche plateias, isso não é verdade, o que enche é o que esta estabelecido e aí já não necessitam de tanto apoio como precisariam. Quando o gosto esta estabelecido é preciso mudá-lo, porque se estámos parados no tempo, não há avanço nenhum. Dizer que a criação artística não necessita de apoio é de uma total ignorância, é não pensar, é um preconceito, é estar a ser manipulado por pessoas que seguramente não estão a ter apoios, porque são os que dizem que vai sempre para os mesmos, se tivessem a ter não se queixavam. Eu não estou a dizer que o sistema de apoios esta correcto, o que poderá estar errado é a forma como é distribuído e isso é discutível. Tem a ver com gosto, porque quem escolhe são pessoas que gostam de determinadas coisas e é aquilo, se são as mesmas ou tem influência durante um longo período de tempo acabam por sempre serem os mesmos, isso não tem nada a ver com o apoiar as artes, mas sim, com os critérios de apoiar uma companhia. Na minha opinião para evitar esse tipo de situações era necessário que essas comissões não fossem sempre constituídas pelas mesmas pessoas, é necesário alterar os órgãos decisórios e isso é uma garantia da diversidade do apoio.
Vamos abordar o projecto de dançando com a diferença, quais foram os desafios que enfrentou nesta companhia muito particular?
RLG: Esta é uma companhia muito particular e foi o meu maior desafio. Quer isto dizer que as referências que um coreógrafo tem quando vem trabalhar nesta companhia, a forma como se comunica com os intérpretes varia de uma forma abrupta, em relação a como se trabalha com bailarinos habituados a um repertório normal, ou seja, onde há pessoas que tem formação de dança desde pequenos, porque possuem um entendimento totalmente diferente do que pessoas portadoras de uma diferença, dígamos assim, que vão apreender. Como é que faço chegar à minha ideia a estas pessoas e como vai ser executada? É um trabalho muito difícil e que necessita de um grande período de aprendizagem. Para mim isto foi um começo para abordar este tipo de linguagem, mas acho que é algo para a vida, é algo que leva muito tempo a desenvolver um conceito que permita criar espectáculos com estas pessoas. É extremamente difícil devido a uma grande diferença em termos de códigos de comunicação e isso é um desafio tremendo.
Os diferentes códigos de comunicação de que fala também se podem aplicam quando vai dar formação na Nourega?
RLG: Isso não tem nada a ver, estámos a falar de pessoas portadoras com deficiência. É diferente pedir a uma pessoa com trissomia 21 fazer um passe de valsa do que a outra que não o tem, o cérebro não opera da mesma forma. Embora, tenha uma anuidade da vida e a sua existência é igual a minha, só a apreensão da realidade reparte esta pessoa. Então é isso, dentro desta característica como posso produzir um objecto artístico? Isso é desafiante.
O que retirou desta experiência como coreógrafo para o futuro?
RLG: É que as coisas podem chegar ao público de uma forma totalmente oposta da qual estou a pensar e posso fazê-lo na mesma, ou seja, existem muitos canais e este tipo de experiências é muito bom para mim, porque me faz pensar que a forma como chego a audiência e que não é através de uma única mensagem, existem múltiplas formas e muito mais simplificadas do que aquelas que uso habitualmente. Neste espectáculo chegámos ao público de uma forma muito mais destilada, menos complicada, tem de ser ao ponto, não se pode estar com muitos floreados e no fundo cria-se uma síntese ao nível da comunicação muito grande, só se usa o essencial. Eu como pessoa tenho a tendência de complicar, de acrescentar mais, porque há a preocupação de não estou a fazer chegar o suficiente e isso é um erro, através desta experiência isso ajuda a simplificar cada vez mais, por de lado o que é acessório e ficar com o essencial.
É difícil transpor uma obra literária para a dança?
RLG: Eu nunca transponho uma obra literária para a dança. Eu parto de um livro para fazer um outro objecto. Possui o mesmo título, Bichos, mas não é o livro, esse já existe.
Para quem leu o livro o que poderá ver da obra?
RLG: Vai reconhecer coisas, nem sequer estão todos os contos, estão apenas alguns. Uma obra literária é suficiente por sí própria, não necessita de mais nada. Eu não gosto da ideia de fazer a coreografia à custa da obra literária, essa já existe, não tem interesse reproduzi-la. Eu a partir de um livro recrio outra coisa que a leitura dessa obra me mostrou e que despertam em mim um certo tipo de realidades que vou querer trabalhar através da dança. A minha postura é sempre a partir de um objecto criar uma outra realidade. Eu não gosto do figurativo.
É assim que se define como coreógrafo?
RLG: Eu não sei como me definir como coreógrafo, ando à procura há anos e quando eu o souber deixo de o ser. O processo é uma descoberta constante. O interesse é não saber .
A paraficcionadora

Salomé Lamas é uma cineasta portuguesa que explora os limites do documentário, no que apelida de paraficção, em que aborda uma parte do real, sob um ponto de vista criativo e onde ainda há espaço para à imaginação.
Tu escreveste os documentários como forma de expressão cinematográfica, porquê?
Salomé Lamas: Hoje em dia a questão documentário/ficção é interessante no âmbito mais académico, existem filmes que são mais permeáveis aos dois formatos, são os chamados híbridos, que não se posicionam nem num lado, nem noutro. Se calhar o trabalho que eu faço dentro do cinema de não ficção, não é o tipo de trabalho mais convencional. Agora, são filmes que se debruçam sobre o real e é a partir disso e como o traduzimos para o espectador que me interessa.
Acho curioso que refiras esse aspecto, porque considero que fazes algo de diferente em termos de narrativa e a forma como filmas os planos, “terra de ninguém” de 2013 é um bom exemplo, onde focas a vida de um indivíduo, é isso que consideras híbrido, porque é fora do habitual mesmo tratando-se de cinema real?
SL: Não, tem às vezes a ver com a incorporação de elementos ficcionais no que se vai “beber” ao real, no fundo a permeabilidade de formatos. Interessa-me, por exemplo, as questões que andam à volta do limite do próprio documentário. Esses limites são interessantes para serem questionados, então se quisermos estámos a falar de uma palavra a que tenho algum carinho que é a paraficcão, tem a ver com criar documentários alicerçados sobre a realidade e o espectador acredita e há uma autoridade intrínseca ao filme porque que é baseado em factos, é quase uma reportagem, mas depois existe uma componente quase literária onde a imaginação tem o seu lugar.
Então qual dos teus trabalhos é que mostra mais essa dimensão de paraficção?
SL: A abordagem é sempre a mesma, eu circunscrevo-me à realidade, seja por um período de tempo, seja geograficamente. Depois como é que vou tratar dessa realidade e apresentá-la? Esse processo de tradução é também sempre criativo. Hoje em dia, o objectivo, ou o real pode ser permutável, ou há um efeito de espelho da realidade e um produto final que quase ninguém acredita que possa existir, no fundo vivemos num mundo de fazer acreditar e tem a ver com essas questões.
Dizem que fazes parte do cinema alternativo português, reves-te nessa categoria?
SL: Não sei, (risos) são as categorias que os outros colocam. Não me cabe a mim rotular-me. No fundo o cinema que eu faço tem uma família junto de outros realizadores lá fora e mesmo no panorama português.
Porquê não encontraste um nicho aqui? É preciso sair do país?
SL: O cinema que eu faço é de circuito de festivais, que procura um espectador activo, às vezes tem a permeabilidade de ser apresentado no espaço do museu. É um trabalho que tem uma distribuição limitada, portanto, nem formato de televisão, nem tanto nas salas de cinema. Sinceramente os canais de distribuição do cinema que eu faço são limitados, tem a ver com muitos factores que não apenas com o trabalho que desenvolvo, tem a ver com o mercado em termos de Portugal, com a falta de salas de cinemas no nosso país e com o público português.
Então quem é o público do teu cinema? É o que vai aos museus?
SL: Não faço ideia. (risos) Acho que é diverso, com todo o tipo de pessoas. Já mostrei filmes para senhoras de 60 anos, é um esprecto muito amplo.
E o que dizem sobre o teu trabalho?
SL: Dizem que os documentários são viáveis. Eu não separo o público em nichos, essa é uma questão muito abstracta, saber para quem trabalho. Os meus filmes são para serem vistos, é para isso que os filmo, não o faço para um determinado público-alvo, embora haja muito essa questão hoje em dia, para mim existe só o público.
Estas a meio de um projecto?
SL: Eu tenho vários projectos em curso, estou a meio de uma longa-metragem que foi filmada no Peru, chamada “el dorado”, com a produtora “o som da fúria”, estou a rodar um filme chamado “extinção na transnistia” que é um enclave pró-russo na Moldávia e que vai ser filmado também na Rómenia, Bulgária, Alemanha e Portugal, trata-se de um filme que acaba por questionar, ou comentar de uma forma abstracta o problema das fronteiras na Europa de Leste, no fundo o que aconteceu depois da queda da ex-URSS, é um filme que espero que esteja pronto já este ano. Tenho uma curta-metragem de ficção para rodar no próximo verão e depois tenho projectos mais pequenos, um deles dividido entre Portugal, Beirute e Dubai. Estou também a preparar numa exposição de artes visuais em Lisboa, apresentarei projectos inéditos, em principio de Junho deste ano.
“El dorado” é sobre quê?
SL: É passado na cidade mais alta do mundo, a cinco mil metros de altitude e é um filme que acaba por retratar uma comunidade de indivíduos que trabalham unicamente nessa localidade, porque existem uma série de minas de ouro onde trabalham durante trinta dias sem salário fixo e depois no dia 31 podem ir a mina e o que encontrarem é deles, é um processo de lotaria. É também sobre como toda a cidade mineira acarreta, uma série de questões intrínsicas ao próprio local.
É por isso que os temas do teus documentários são sempre pessoas, ou grupos de pessoas que estão fora da sociedade?
SL: São situações marginais.
É propositado ou não?
SL: É na medida em que são sujeitos que não tem voz. Realidades por vezes desconhecidas e mais uma vez tem a ver com essa ideia de limite, com procurar explorar essa questão quer seja em termos geográficos, ou quase físicos. No fundo são locais remotos, há uma falta de controlo, são quase violentos e hostis e tem a ver com a forma como me posiciono perante essas realidades. Existe uma fricção, um confronto em deslocar-me para esses territórios, sou um corpo estranho nessas realidades e há esse embate nessa espera de ocupar o lugar e surge então a oportunidade de fazer um documentário, tem a ver com o meu processo de fazer filmes.
Como é que olham para ti? Tens uma figura frágil e és uma mulher, não pesa?
SL: Por vezes acaba por ser uma vantagem, é complicado dizer. Eu tenho essa figura frágil e pequenina.
Sim e és estrangeira.
SL: Exacto. Tem a ver com esse processo de espera, em que tentas “ganhar” a confiança, mas outro lado, vou ser sempre estrangeira.
Fazes uma preparação antes de filmar?
SL: Não, porque parto do princípio que fazer documentários não é um acto “bonito”. É um trabalho que acarreta uma série questões éticas e morais, onde há também uma relação de poder sobre o objecto que esta a ser filmado. Agora, há fórmulas para encontrar um equilíbrio, mas em última instância é sempre o realizador que controla o produto final, porque estámos a tornar assuntos privados em públicos e esse acto não se faz de ânimo leve, porque acarreta uma responsabilidade. Ligada a essa questão esta também a certeza que é apresentar-me, é muito mais honesto. O filme é uma transação em que quem esta a ser filmado dá algo, eu recebo, mas também dou algo em troca e a pessoa também recebe algo. Trata-se de um pacto que tem de ser muito claro desde o início, não vou estar a criar uma ligação com uma pessoa, não é fingir, mas para mim a distância é essencial, se ficámos amigos e se construímos uma relação, isso é depois. Eu estou a fazer um filme e isso acarreta uma série de questões, é a forma mais limpa de o fazer, mas acima de tudo interessa-me esse primeiro embate.
2 milhões tem uma mascote

Cerca 54% de lares nacionais possui, pelo menos, um cão ou um gato.
Os dados representam um crescimento de 9 pontos percentuais em apenas 4 anos, sendo uma das principais conclusões de um estudo da GfK publicado em finais do 2015, que explica que esta tendência deve-se às alterações dos núcleos familiares, bem como à evidência de que os animais de estimação contribuem para o bem-estar físico e psicológico dos “donos”. Estes números mostram que os animais estão a ganhar cada vez mais espaço dentro das habitações, verificando-se, ainda, que a grande maioria das famílias os considera como membros e parte essencial das suas vidas. Assim sendo, há também uma outra tendência que se destaca, o tratamento mais humanizado com os cães e gatos, que leva ao estabelecimento de uma ligação muito mais emocional e afectiva do que funcional. Tal como em muitos outros países, Portugal já regista, inclusivamente, mais cães e/ou gatos nos núcleos familiares do que crianças.
O estudo conclui ainda que praticamente metade dos cães são de raça (48%) e que as preferências vão para Caniche, Retriever de Labrador, Pincher, Pastor Alemão e Podengo Português. A crescer, está o número destes animais a viver dentro de casa (53%) e o facto dos portugueses adoptarem mais cães (15% face a 3% em 2011), apesar serem sobretudo oferecidos (56%).
Também nos gatos se verificam as mesmas tendências. 28% são de raça e no top 5 encontra-se Siamês, Europeu Comum, Persa, Azul Inglês de pelo curto e Azul da Rússia. Observa-se um crescimento muito acentuado de gatos adoptados (25% face a 3% em 2011) e, tal como acontece com os cães, estes animais vivem, maioritariamente, dentro de casa (64%).
Já no que respeita aos cuidados com os cães e gatos, em ambos os casos, os “donos” apresentam como principais factores de preocupação, a saúde e a alimentação. Não obstante, consideram também a higiene e o conforto.Na saúde, é visível que cada vez mais se leva o “amigo de quatro patas” ao veterinário sobretudo para vacinação (91% no caso dos cães e 72% nos gatos), mas também para desparasitação interna/externa. Já na alimentação nota-se que está a diminuir o dar restos de comida (-32% nos cães e 40% nos gatos, face a 2011) e a privilegiar-se mais a alimentação seca (76% nos cães e 69% nos gatos). Em ambos, a comida é escolhida de acordo com a preferência/gosto do animal. Assim sendo, é na alimentação que os “donos” mais dinheiro gastam (60% nos cães e 61% nos gatos).
Para concluir, o GfKTrack.2Pet apresenta ainda o ranking dos países europeus com mais animais de estimação. Portugal posiciona-se no 12.º do ranking que tem no topo Rússia, França, Itália, Alemanha e UK. A nível mundial, os EUA surgem como o país mais “pet-friendly”, já que têm a maior penetração de animais de estimação com 65% dos lares a possuir, pelo menos, um.
Fonte: Estudo GfKTrack.2PETs Portugal (Vaga 2015)
Ano novo vida velha

É um texto que pretende fazer a análise dos eventos que agitaram os media no último ano.
Gostaria de dizer antes de mais que não aprecio muito esta ideia de balanços, embora os tenha feito no passado como sabem. Contudo, este ano decidi escrever um texto diferente. Quero abordar as palavras-chave, pelo menos que considero relevantes do ano que já passou e que vão continuar a marcar as agendas mediáticas deste 2016.
A minha primeira palavra do ano é medo. Os últimos ataques terroristas perpetuados em vários países continuam a semear o caos e a desconfiança um pouco por todo o mundo. Os recentes atentados na Europa apenas provam que a maior arma destes grupos extremistas islâmicos é o medo. Não sabemos quem são, quantos existem, o que pensam e o pior quando vão atacar de novo e todas essas incógnitas são de facto uma arma poderosa. Antes do fim do ano foram noticiados inúmeros eventuais ataques que foram evitados a tempo pelas forças de segurança, mas será que toda essa informação veículada pelos meios de comunicação ajuda? Dá a impressão que quanto mais sabemos, menos seguros nos sentimos e parece que os terroristas “brincam” connosco da pior forma possível, ao nível psicológico. Creio que os europeus, no geral, sentem-se acossados, são tal qual as pessoas após um assalto nas suas residências, violadas na sua privacidade e inseguras no que julgavam ser um espaço seguro, porque afinal eles podem voltar, certo?
Imigrantes foi escolhida como a palavra do ano, concordo e creio que vai continuar a ser relevante em 2016. As ondas migratórias que ganharam maior expressão no 2015 demonstram não só que logisticamente e politicamente não estámos preparados para receber milhões de pessoas que fogem da guerra, da miséria e da fome, como psicologicamente os europeus na sua larga maioria prefere ignorar esta onda de seres humanos em movimento. As consequências são notórias, maior intolerância com as comunidades muçulmanas já existentes na Europa, um racismo cada vez mais patente em relação as pessoas com cabelos escuros, olhos castanhos e pele morena, como se houvesse um estereótipo já definido, um xenofonismo assumido abertamente e sem constragimentos por vários movimentos partidários europeus, basta olhar para o crescimento dos partidos de extrema-direita nas urnas em não apenas um, mas em vários dos ditos países evoluídos e o encerrar das fronteiras de muitas das nações limitrófes dessas mesmas rotas migratórias. Recentemente vi um filme que me fez pensar muito sobre esta esta temática, intitulado “a chave de Sarah” sobre o massacre dos judeus franceses. Há um cena em particular que me chamou à atenção pela inteligência do argumento, numa pequena redação discutem-se as atrocidades da chamada "concentração do Vel' d'Hiv" e de como as pessoas preferiam ignorar o que acontecia aos judeus que fugiam da morte, ou desapareciam pura e simplesmente das suas residências, ou do gueto, um dos personagens salienta até que sente vergonha dessa indiferença da maioria e que tal não voltaria a acontecer caso se repetisse, mas eis que alguém recorda que o mesmíssimo cenário se poderia aplicar aos actuais imigrantes que morrem nas costas europeias, afinal é preferível fingir que não é nada com connosco? É muito fácil condenar os outros no passado e olhar com uma certa arrogância para uma sociedade que considerámos retrográda, mas será? Hoje, você que esta a ler este artigo, também não fará parte de uma maioria que prefere ignorar o problema? Os políticos que resolvam essa questão, certo? Foi o que aconteceu na II Guerra Mundial e o resultado é o que se sabe.
Conectar continua ao meu ver a ser relevante em 2016, não pelas melhores razões devo acrescentar, embora as novas tecnologias tenham vindo a revolucionar o mundo em termos de comunicação, ao encurtar o tempo e as distâncias, ao contrário do que seria expectável não nos aproximam, muito pelo contrário, cada vez mais vivemos isolados na nossa “bolha”, no nosso “cocoon” como descreve Faith Popcorn no seu livro, “eve-lution”, que nunca foi tão actual como agora. Se reparem tudo pode ser adquirido hoje em dia online, nem sequer é preciso sair de casa, pelo menos nas sociedades mais desenvolvidas, podemos estudar, trabalhar e ter uma existência aceitável sem sair das nossas quatro paredes, evitando ao mesmo tempo ser confrontados com a violência imprevisível que se vive nas ruas. É também porventura a sociedade mais auto-vigiada de sempre. Quando George Orwell escreveu “1984”, imaginou um mundo comandado pelo “big brother” que até conseguia controlar os pensamentos dos seus cidadãos. Na actualidade, as pessoas gravam e fotografam todos os momentos da sua existência, por mais fúteis que sejam, há câmaras em todo o lado, nos edifícios públicos, nas ruas, nas nossas casas tudo em prol da nossa segurança, isto sem falar das redes sociais e dos motores de busca que coleccionam informação preciosa sobre os nossos gostos e preferências e nem precisam de pagar, nos fornecemos todas essas informações gratuitamente e não consideremos que nada disto seja invasão da privacidade, muito pelo contrário. A ironia se ainda não percebeu, é que não foi preciso criar um governo que controlasse as pessoas, os seus pensamentos e gostos, todos nós somos somos o “big brother” das nossas próprias vidas e isso já é tão aceitável que nem sequer se questiona.
As pessoas, por outro lado, um pouco por todo o globo estão cada vez mais dependentes das suas existências vituais e já é tão notório a escassez de contacto directo que basta dar uma vista olhos numa esplanada, ou num restaurante, ou até num bar para se poder constatar facilmente que as pessoas não comunicam. Estão conectadas aos seus telemóveis, ipads e portáteis, nem sequer conversam entre si, estão lá fisicamente, mas ausentes ao mesmo tempo. Faz sentido? Para ilustrar esta ideia vou resumidamente contar a história de um artigo muito interessante que li sobre esta mesma questão, um restaurante famoso em Nova York (do qual não me lembro o nome) que existe desde a década de 70, andava a ser alvo de processos judiciais por parte de clientes que se queixavam que a comida vinha fria. A gerência, consciente do má publicidade que tudo isso acarreta, decidiu rever todos os procedimentos desde o momento em que o empregado de mesa anotava o pedido, os tempos da cozinha e o quanto demorava até o prato chegar à mesa. Chegaram à conclusão que demorava cerca de meia hora como vinha acontecendo quase desde o dia de abertura e até se deram o trabalho de ver as antigas cassettes Beta e VHS para verificar se havia ou não diferenças e o que encontraram? Que de facto no espaço de 30 anos tudo mudou. Se no passado as pessoas entravam no restaurante, faziam o seu pedido, bebiam até um aperitivo e enquanto aguardavam conversavam, actualmente, os clientes entram, pedem e quando a comida chega à mesa, ou estão já entretidos com os seus gadgets e nem dão quase pela chegada da comida, porque é preciso estar online sempre, ou ficam entretidos a tirar fotografias dos pratos, que imediatamente postam nas redes sociais, onde logo de seguida comentam tudo e mais alguma coisa e quando decidem comer, já esta frio. É evidente que para evitar futuros processos judiciais o restaurante em causa publicou um anúncio enorme no jornal de maior tiragem da cidade e no “craigslist” com todas estas constatações e onde assume que já não se responsabiliza pelo mau comportamento dos seus clientes. Dá que pensar, certo?
As personalidades fícticias que se criam nas redes sociais é outra faceta do mesmo problema, se reparem todos são felizes, ou estão constantemente em festa, ou de férias. Nada é real, tudo é montado e ajustado com photoshop para parecer ideal. Pergunto-me que tipo de sociedade estámos a criar onde as pessoas sofrem de um aparente narcisismo galopante, onde tudo é aparentemente belo e perfeito e se mostra tudo???? Olho mesmo com muita preocupação para este embrutecimento das novas gerações e de como as pessoas já não são avaliadas pelas suas competências, mas sim pela sua aparência e quantos seguidores possuem nas suas páginas sociais, pensem um pouco, se um dia e não é um cenário impossível, se a internet falhar o que eles vão fazer? Já pensaram que os únicos que se safam são os que conheciam o mundo antes da chegada as novas tecnologias? Estou certa ou estou errada?

A palavra mulher é e continua a ser infelizmente um tópico actual. As cenas de violência sexual que acontecem com grande frequência em muitos países onde as mulheres ainda são vistas como seres inferiores, agora, chegaram à Europa. Os recentes ataques que ocorreram em Colónia e outras capitais europeias no final do ano são disso um exemplo para pior. Em pleno século XXI ainda somos confrontadas com todo o tipo de violência, quer seja físico, como psicológico, mesmo nas sociedades ditas evoluídas. As mulheres ainda são as maiores vítimas, um pouco por todo o mundo, do tráfego de seres humanos e da escassez de quaisquer direitos ou garantias, embora finalmente tenha sido acordado um documento na ONU que visa evitar a violência sexual em zonas de guerra. A verdade dos factos é que estes casos continuam a manchar a nossa realidade e volto a frisar o caso das meninas que foram raptadas pelos Boko Haram e cujas famílias ainda sofrem em silêncio. Recordo os ataques a várias jovens na Índia, as mulheres desfiguradas do Paquistão e as meninas traficadas da Tailândia. Mais perto, lembro com vergonha que as mulheres imigrantes, em plena Europa, são coagidas e ameaçadas pelas redes de traficantes a prostituir-se para pagar pela sua passagem e da sua família, perante a indiferença das autoridades. Por tudo isto, infelizmente, será mais um ano de luta contra a discriminação do género. Mas, nem tudo são más notícias, pela primeira vez na história dos países islâmicos, uma mulher foi eleita deputada na Arábia Saudita e no meu país, uma estatística também histórica um terço dos deputados da assembleia da república são mulheres. O próximo objectivo? Eleger uma primeira-ministra! E a luta continua...
A recolectora de memórias musicais
Celina Pereira não é apenas uma cantora de mornas cabo-verdiana, é um recolectora do passado oral do seu país. Um trabalho incansável audível através dos seus audio-livros multilingues que levam a cultura cabo-verdiana aos quatro cantos do mundo.
Vamos fazer uma retrospectiva da sua carreira e relembrar o seu primeiro disco que foi editado em 1986.
Celina Pereira: Foi antes nos anos 70. Em 1986 foi lançado o meu primeiro LP.
Cantado apenas em crioulo.
CP: Sim.
Este trabalho discográfico coíncidiu com um momento de viragem em Cabo-Verde.
CP: Sim.
A data não foi acaso ou foi?
CP: Foi ao acaso, mas há sempre felizes coincidências e acho que aconteceu numa altura específica.
Olhando para atrás e para estes 29 anos de democracia em Cabo-Verde e fala-se que que as novas gerações, mesmo na música, estejam a esquecer o crioulo em detrimento do português. O que sente em relação a isso tudo?
CP: Eu não sinto que os jovens estejam a esquecer o crioulo, porque é sempre a língua materna, que ouvimos nas barrigas das nossas mães, acho que é indelével. Até há um movimento da escrita, sobretudo nas redes sociais, as mensagens sms, em que os adolescentes escrevem sempre em crioulo. A língua não esta esquecida, o que sinto é que existe menos rigor na aprendizagem da língua portuguesa, porque vejámos as condições deficitárias da aprendizagem do português com que os candidatos a cursos superiores chegam à Portugal.
Mas, isso também não teve a ver com o facto que se pôs de parte a língua do povo opressor.
CP: Sim, do colonizador. Sabe que em todas as situações da história, da vida dos países, há gente mais fanática para algumas coisas. Eu não sou crioulista, eu nasci num país que sendo tão pequenino como é, mas estando um pouco espalhado pelo mundo, é uma nação com uma dimensão universal e vivemos numa época em que quanto mais línguas falamos, melhor convivemos. Nascer a falar crioulo e aprender a falar português é um privilégio, passar a ser-se bilingue, mas é ainda maior honra ser-se multilingue, porque vivemos em sociedades e mundos dessa natureza. Como prova eu editei alguns anos atrás uns audio-livros, sempre com uma característica minha de multilinguismo. Eu comecei a editar este tipo de formato em 1991.
Mas, porque começou logo a editar audio-livros, são formatos que, por norma, são associados a públicos que não conseguem ler?
CP: Eu escolhi esse formato, porque é uma forma de gravação e transmissão do que eu queria fazer que aprendi num país muito mais evoluído que naquele onde moro, que é os EUA. Eu tive um primeiro contacto com esse país, entre aos anos 90, quando saíu o meu primeiro trabalho sobre contos tradicionais. Um contador de histórias cabo-verdiano mostrou-me um audio-livro, aliás, vários, que já tinham sido lançados no terrritório americano. Eu comecei a pensar que a maneira como queria contar as minhas histórias também seria dessa forma, podia-se ouvir e ler. Acontece que nessa mesma altura foi convidada para ir até à África do Sul, a uma conferência, tive contacto com uma causa que defendia que protegia crianças cegas e comecei a pensar da melhor maneira destas crianças seguirem o meu livro seria ouvirem a história, porque não conseguiriam ler, mas também que tivesse uma inscrição em braile, que até hoje não consegui, porque me dizem que é mais difícil, ou é mais caro por vários motivos. Eu escolhi este formato, porque foi a forma que encontrei para poder abranger o maior número de ouvintes, ou de gente que pudesse “beber” o que queria transmitir sobre a cultura do meu país.
Reconhece, contudo, que o seu nome foi sempre associado à música cabo-verdiana e ao estilo das mornas. E como esse público de cabo-verdianos espalhados pelo mundo, encara a música e a cultura do seu país?
CP: Há sempre uma curiosidade enorme sobre Cabo-Verde e sabe que é a melhor bandeira do meu país, embora eu tenha no coração outro país, que é Portugal, onde escolhi morar. Cabo-Verde é um país conhecido sobretudo pela música nos últimos anos e pela voz de uma mulher que já desapareceu que é a Cesária Évora, ela era uma cantora de mornas e coladeiras. Eu sou uma cantadeira de mornas, sendo que nunca cantei apenas este estilo, tendo vindo ao longo dos anos a fazer um trabalho de pesquisa sobre tradições orais, que envolve as urcas, cantigas-de-roda, de contra-dança, rabolhos e cantigas-de-brincadeiras. O que eu sinto é que as mornas como um elemento que tem sido aplaudido, muito lenvantado como bandeira do povo cabo-verdiano, pelos nossos poetas, intelectuais, pelos nossos compositores, porque é a nossa alma, é como o fado e é realmente este estilo musical que une todos os cabo-verdianos, não é o batuque, nem é tabanca, nem a coladeira, nem a mazurca. As mornas que são compostas em português e crioulo é onde sinto a plenitude que todos os poetas querem dizer. Repare, a coladeira é um género que envolve algumas facetas do quotidiano, só tem, por exemplo, o lado satírico. As mornas, por outro lado, são satíricas, de amor, de saudade, são ponto de partida, há todo um arco-íris de emoções. Eu já fiz espectáculos em Cabo-Verde, estive em São Vicente, há dois anos e essencialmente cantaram-se mornas e eu senti que o povo queria ouvir aquilo, não estava lá para dançar, queriam ouvir a melodia ligada a palavra e as mornas são o essencial daquilo que quero continuar a fazer.
Mas, como dá importância a palavra, a história como é que no final faz a selecção? Tendo concerteza um leque variadíssimo.
CP: Quando gravei o meu primeiro EP de 45 rotações, a fonte de inspiração foi a minha mãe, aliás, eu aprendi a cantar mornas em casa. É verdade que também aprendi canto coral no liceu, onde se ensinavam mornas em português, na altura não se ensinava o crioulo. A primeira pessoa de quem eu “bebi” mornas foi a minha mãe, inclusivamente um tema de um tio meu, que faleceu relativamente jovem e a verdade é que tenho ido atrás das pessoas mais velhas para me ensinarem. Posso acrescentar que numa determinada fase da minha vida, ultimamente não tenho feito isso, andei 20 anos com um gravador de micro-cassetes que era obrigatório quando ia visitar a família à Cabo-Verde, porque sempre tive uma grande curiosidade em saber de mim própria. Eu costumo dizer que o colonizador não me ensinou nada sobre mim, ensinou sobre ele, as cidades, os rios e serras de Portugal. Não me ensinou sobre as ribeiras de Santo Antão, ou de São Nicolau ou de Santiago e para saber de mim, como colonizada, ou ex-colonizada, eu sempre quis saber sobre as mazurcas, as contra-danças, quando a minha mãe falava disso, eu fazia imensas perguntas, aliás, a minha curiosidade e intuição tem-me levado a saber sobre estas coisas. Eu sou um ser mestiço, de um país com uma cultura riquíssima que não se confina as mornas e coladeiras que eram do gosto colonial, porque na época era o que se gostava mais de ouvir.
Disse uma coisa curiosa que andava de gravador atrás de si, porque esses estilos musicais eram apenas de tradição oral?
CP: Sim, como sabe a cultura africana é essencialmente baseada na tradição oral, povoam as sociedades africanas, tanto que existem algumas etnias, como os mandigas na Guiné-Bissau, por exemplo, são os grandes contadores e cantores de histórias, contam histórias dos reis, imperadores do reino, tudo é cantando e sempre oralmente. Esta tradição perde-se se não a gravarmos e em Cabo-Verde nunca houve a preocupação de se fazer uma base etnológica, ou antropológica se quiser da cultura musical cabo-verdiana, tem havido pontualmente algumas coisas e eu tenho essa responsabilidade, porque não conheço outros artistas cabo-verdianos que tenham feito esse levantamento, tem sido uma luta.
Com que idade começou a fazer isso?
CP: Eu tenho feito isto desde os meus 30 anos. Comecei a perseguir a minha mãe nas férias, após o pequeno-almoço a contar-me histórias, cantigas-de-rodas e a ensinar-me as coisas mais antigas. Volto a repetir, a minha intuição me levou a procurar as coisas, a escavar se quiser.
Essa procura continua, tem sido um marco nestes últimos trabalhos que tem desenvolvido.
CP: Sim, o meu trabalho sobre contos cabo-verdianos é disso um exemplo, foi lançado em vinil, nos anos 90, é um trabalho feito essencialmente em crioulo, esta traduzido em português e inglês. A seguir, dei conta, como sou professora de formação, que só falando em crioulo eu não chegava ao grande público, somos 300 milhões a falar em português e resolvi que o meu próximo trabalho seria nessa língua. É o meu audio-livro mais recente e esta traduzido em inglês e francês. Mas, a fala, os contos são em português e posso dizer que esta colectânea de contos da CPLP continua a ser a minha luta, porque tendo dirigido esse trabalho, sempre disse que nos confins de Angola, Moçambique, ou Cabo-Verde onde os professores não tem electricidade, onde não chega a internet como é que podem ouvir? É necessário este formato, porque eu faço a narração dos contos e depois há outros artistas que também o fazem.
Qual é o feedback desses leitores cabo-verdianos, eles revêm a sua infância e vem ter consigo para abordar essas memória?
CP: Sim, tem até acontecido coisas que me deixam surpreendida. Fiz o lançamento na Holanda e nos EUA e não imagina como gente mais velha, mais nova do que eu e da minha idade que tem vindo ter comigo para me dizer, “ que deus a abençoe nunca mais tinha ouvido essas histórias, nem esta cantiga”, quando o primeiro disco sobre contos saiu em Portugal, eu dei uma entrevista não sei em que canal e houve um grupo de senhoras que ligaram para a associação cabo-verdiana, porque não tinham o meu contacto queriam saber quando o ia lançar porque queriam comprar o disco não era para os netos, mas sim para elas, havia cantigas de rodas que nunca mais se tinham cantado em Cabo-Verde até eu pegar nessa matéria e lançar essas cantigas. Graças a Isaura Gomes, presidente de Câmara de Mindelo, fiz a minha incursão nas escolas estive em 26 estabelecimentos de ensino, durante um mês, levei até um músico comigo e no final ela disse-me que “eu estava a roubar-lhe a popularidade, porque as crianças da rua só falam na Celina Pereira”.
E agora qual é o seu próximo projecto?
CP: A minha cabeça não para. Neste momento já esta numa editora um próximo audio-livro, que não sei quando irá sair, com outra colectânea de contos tradicionais. É um conto que escrevi em homenagem à minha mãe, mas vai ser um audio-livro multilingue, eu quero continuar nessa área. Devido as sociedades actuais eu não posso editar nada em apenas uma língua, não vai ser escrito só em português, também vai ser editado em inglês, crioulo, castelhano. É só um conto, mas não lhe vou dizer o título, já esta a ser traduzido.
Mas, as pessoas podem adquirir os seus outros audio-livros onde? Em lojas online?
CP: Não, o meu audio-livro mais recente que é “história do tambor abrir mundo” esta esgotado, o anterior esgotadissímo esta também. Neste momento na Associação cabo-verdiana em Lisboa tem ainda 3 ou 4 exemplares e infelizmente não estou mais no mercado, nem sequer em Cabo-Verde os encontra.
Porquê não se fizerem mais exemplares?
CP: Porque tem sido uma aventura minha, do meu bolso, o meu primeiro LP foi eu que paguei, o meu trabalho sobre contos foi pago com dinheiro emprestado pela minha mãe, pelo meu irmão, pela família toda, eu não tive quase apoios. Existiam duas instituições que estão indicadas na contra-capa no vinil que foram retiradas porque prometeram e depois não deram nada. Eu tenho feito “loucuras” por causa desta minha insanidade saudável de andar atrás das tradições. Não estou arrependida, porque tudo o que tem sido feito é para o meu prazer pessoal, mas é servir uma causa que tenho tomado como missão. Aliás, uma amiga minha diz que só as mulheres tem esta capacidade de encarar uma missão e levá-la até fim e esta é a minha causa que eu me impus e da qual nunca vou desistir. Eu sinto que Cabo-Verde precisa, porque temos de apostar nas crianças e no seu futuro mostrando a sua identidade, não nascemos por geração espontânea. Eu não tenho olhos verdes porque o meu bisavô materno era branco de olho azul e cabelo claro. Com as minhas perguntas e falando com a minha mãe fiquei a saber eu e os meus irmãos que temos um antepassado madeirense. Não estamos aqui por acaso, agora, ando atrás das mornas, não temos em Cabo-Verde uma pesquisa séria, não temos uma memória do que esta escrito sobre cantadeiras e cantadores de mornas que estiveram em Portugal nos anos 30, na primeira exposição colonial e depois na exposição do mundo português, nos anos 40, não temos esse registo. Eu continuo achar que é uma lacuna enorme, nos devemos isso em termos de formação de memória futuro aos nossos filhos e netos. Acho que este meu espírito de professora é para toda a vida, embora só tenha dado aulas durante três anos, acho que é esta curiosidade que vai estar comigo até o final dos meus dias, porque só sei que nada sei.
As botachas


A bota chã é uma marca de produção de calçado regional que tem vindo a inovar, através de uma colecção de novos modelos, denominados de “botachas”, que pretende lançar-se em novos mercados.
Como iniciou este projecto da inovação das botas chãs?
Carlos Vieira : Houve uma necessidade de inovar sempre com base no modelo tradicional das botas. São exigências do próprio mercado, porque a bota chã não é um produto muito vendável, há realmente algumas lojas que as comercializam, obviamente que não é uma venda mensal constante, mas tinhámos que fazer algo. Comprei esta empresa, porque o proprietário teve que ausentar-se, ele fez-me uma proposta e eu aceitei. Entendi que devia criar outros modelos para de certa forma ir alavancando à companhia. Chamo de “botachas”, os novos modelos, já que podem ser feitas em todos os tipos de materiais, desde couro até tecido.
Qual tem sido a aceitação das botachas?
CV: Tem sido muito boa.
Quem as compram?
CV: Maioritariamente são os madeirenses. Mais mulheres, também temos homens. É um modelo unisexo. Os turistas não compram tanto e quando o fazem preferem a bota tradicional, porque é um produto genuíno regional.
Qual é o modelo mais popular?
CV: Temos um modelo feito em duas peças. Possui tecido com o padrão colorido, das riscas, chamado regional, na frente e ganga atrás, é o que se vende mais. Também temos ao contrário, mas a mais adquirida é a que referi anteriormente.
E os homens o que compram?
CV: Os modelos mais básicos, só ganga, ou camurça normal. As cores elegidas são o preto e castanho, o homens não gostam de tons muito coloridos, preferem cores sólidas.
E em termos da comunidade emigrante tem alguns pedidos de “botachas”?
CV: Esse é um mercado que tenho obrigatoriamente de explorar. Já tive uma reunião com uma personalidade que é o elo de ligação entre a ilha e as comunidades.
E no site não recebem encomendas?
CV: Não, ainda não temos site só facebook. Aliás, é minha intenção assumir esse mercado, porque pretendo colocar este produto no exterior. O problema são os custos, enviar uma caixa com botas para o Brasil, ou África do Sul sai caro, mas estámos a fazer algum investimento nesse sentido.
Qual é o próximo passo para a sua marca no 2016?
CV O próximo passo é registar a marca, por várias motivos, a principal é ter uma garantia de segurança. Depois queria poder iniciar o processo de exportação, como disse anteriormente, o mercado das comunidades portuguesas é enorme, tem um grande potencial e temos de ir à procura deles. Como sabe a Ribeira Brava é uma terra de emigrantes e nesta altura de final do ano já vendi algumas “botachas” para a Venezuela, Suiça, Canadá e África do Sul. Agora, se conseguir colocar um par de botas num posto de venda no exterior é mais fácil de espalhar o conceito do produto. Como disse, não posso estar à espera que me contactem, tenho de chegar a esses países, quer através do facebook, ou outros meios de comunicação.
Fantasmas e fantasias do brumário

É um dos tomo do ciclo poético iniciado com "Brumário" e "Derivações do Brumário". Segundo a escritora cabo-verdiana Fátima Bettencourt “é uma obra enciclopédica não tanto pela extensão do texto, mas pela sua intensidade e pela urgência como nos encita a olhar para os clássicos, não só em visitas rápidas, mas em permanente convívio. Arménio Vieira oferece estes poemas como quem atira pedras perfumadas”.
Porquê Brumário?
Arménio Vieira: Já me fizeram essa pergunta mais de mil vezes, uma das correlações pode ser essa história do golpe de Napoleão Bonaparte, mas outra de um fenómeno cabo-verdiano que aparece no mês de Janeiro, sobretudo quando os aviões não decolam. Agora não, porque à noite é possível.
O brumário é a odisseia do povo cabo-verdiano?
AV: Eu quando começo a escrever não escolho o tema é quase um momento de meditação, é quando surge a primeira frase e daí para frente não paro, depois há a reescrita. Dizer que o brumário é uma odisseia se calhar de superação da miséria, fiz uma viagem até chegar à independência, porque eu sou de lá. Eu não estou a pensar em Cabo-Verde, há qualquer coisa que esta em mim e o meu país também estará.
Também disse que era um escritor disruptivo, que queria romper um pouco...
AV: Um pouco não, totalmente. É um corte epistemológico como quando Copérnico aparece com uma nova teoria há um corte, que ele assume e ia morrendo e essa noção de revolucionário clássico foi atribuído a um homem da igreja, até porque ele era padre. Quando Darwin começa a investigar a sua teoria da evolução, em termos de ciência natural, foi um salto, uma revolução.
Por isso quis fazer esse rompimento em termos de escrita?
AV: Não quis fazer isso, acontece, não comando. Existe algo em mim, um demónio, um Deus, um anjo que me faz fazer isso, não é pensado, é quase instintivo. Eu vou-lhe contar, antes da independência a gente escrevia poemas libertários, apesar de haver o mesmo fundo político a poesia foi escolhendo temas que depois ultrapassei. Quando chegámos à independência eu disse para mim se fosse mulher eu teria atingido a menopausa, já não vou parir mais, cumpri e acabou, mas esse vírus poético estava lá e fez-me escrever de outra maneira. Há um momento importante na minha vida que é quando fiz uma viagem à União Soviética e em termos poéticos não aprendi absolutamente nada, mas no regresso o meu amigo Mário Fonseca, que na altura era um dos poetas máximo de Cabo-Verde, o mais precoce, disse-me assim, Arménio o que andas a ler? O que aparecer, porque no meu país não existem bibliotecas e ele ofereceu-me os grandes clássicos franceses. Li Baudelaire, Rambaud, Verlaine, Valerie, Prévert a conselho dele em vez de os ler por prazer, fi-lo por obrigação, lia, relia e estudava e no meio daquilo lembro-me que me ofereceu um livro de Ezra Pound um grande poeta americano que depois se envolveu com o facismo italiano e foi diabolizado por isso, foi o único americano que falou sobre Camões colocando-o num lugar muito alto, dizia sobre ele que era um poeta que sabia tudo o que havia para saber. O poeta não deve apenas escrever, deve saber e assimilar os grandes escritores foi o que fiz e acho que não foi cansativo, não me chateou.
E onde é que entra Shakespeare no brumário?
AV: Foi obrigado a ler essas grandes peças. Não os escolhi, eles apareceram na minha vida, eu não os procurava, alguém sempre me oferecia um livro.
O livro aborda também o diabo, são os seus demónios que estão presentes?
AV: De onde é que vêm o diabo? Não é dos livros judaícos do velho e novo testamento. É o princípio do mal, há uma tese que é Deus e representa o bem, é um pólo, um extremo e o diabo, o satánas, é o mal que é muito anterior a doutrina cristã, porque o profeta Zoroastro de “assim falou Zaratustra” de Friedrich Nietzsche criou esse princípio do dualismo, do bem e do mal, só que numa perspectiva optimista, no fim haveria uma luta quase eterna, no final dos tempos o bem triunfaria sobre o mal. No novo testamento há uma coisa terrível sobre a porta que é estreita e todos serão chamados, poucos os escolhidos e há pessoas que se salvam, mas a maior parte vai para o inferno. Eu penso que o Cristo que eu vejo, o mestre deve perdoar, diz sim ao amigo e novamente ama-o, obra é quando o indivíduo ama o inimigo, mas para o judeu é olho por olho, dente por dente. Cristo diz perdoa até 70x7, é uma metáfora, quer dizer perdoa sempre, ninguém perdoa sempre. Então, Cristo ora é extremamente bom, ora é um demónio, porque manda as pessoas para o inferno, zanga-se com uma figueira que é velha e não pode dar figos, admiro que um homem que era o próprio Deus encarnado tenha fome, porque quer, ele transforma um peixe em mil e uma pedra transforma em pão.
Gosta na escrita de ter essas contradições?
AV: As contradições não são minhas. Eu abordo tanta coisa, o amor, o inferno, a morte.
É a sua linha condutora que existe sempre um oposto?
AV: Quando escrevo não escolho o tema, nem a palavra. Acontece e aparece.
Pensa muito antes de escrever?
AV: Eu observo um bicho, a partir dele pode haver a ideia para um poema. Há uma coisa que admirei, que me pode ter chocado, que gostei, mas não vou dize-lo, vou ter de escrever esse poema e mesmo que queira esquecer essa coisa, é como um demónio que entrou dentro de mim e diz-me que tenho de escrever e eu escrevo.
Existem dias em que não consegue escrever?
AV: Há momentos em Cabo-Verde em que estou estéril, como uma mulher que não pode parir.
Há muitos períodos assim?
AV A ideia para um poema vem-me. Depois há o problema de pegar na caneta e escrever. Tanta poesia que tenho imaginada e que nunca registrei, a que existe é aquela que esta escrita. Jean Paul Sartre dizia que todo o homem é poeta, mas não, sou é reconhecido por aquilo que registo, se não o faço, não existe. Eu escrevo livros para serem lidos, mas não vou lê-los, revejo para corrigir, ou para cortar, uma palavra a mais pode destruir um poema, a menos pode salvar, essa palavra não esta lá e vais ter de a encontrar.
E por hábito faz essa revisão constante?
AV: Eu vou contar-lhe uma história, quando escrevi “Mitografias” eu levei um amigo Curto, poeta e ele disse-me que o poema sobre Camões tinha sido o melhor que já escrevi, que era magnifico, muita gente escreveu sobre o poeta português, mas há uma coisa dizes num verso que o poeta é letra A de uma recta e João Cabral de Melo Neto que até foi nosso contemporâneoé o Z dessa recta porquê? São duas poéticas diferentes. Ele pegou no termo recta e referiu que não existe, digamos que é geométria abstracta, o traço que a gente faz mesmo com o lápis muito fino no papel não é uma linha, porque não tem dimensão, o ponto é um círculo, porque se o vir ao microscópio é um circulo envolvido numa circunferência, tem dimensão, o ponto é uma abstração, é ideal, tudo é geométria abstracta. A recta não tem princípio, nem fim, em termos científicos é um segmento da recta, é um pedaço, o mundo é finito, o universo provavelmente é infinito, nós somos também finitos e há o A e o Z. Ele fez uma boa observação sobre o poema de Camões, por outro lado, caiu numa cilada de me corrigir, porque depois do que aprendi com ele, li mais livros de geométria e matemática e poucos poetas falam das ciências exactas, para os cientistas os poetas são uns tolos inspirados, doidos subversivos. O poeta é um demónio que tinha uma divindade nele, que não tinha voz própria, era quase um ser irracional, que não tinha voz própria, o filósofo não, Platão era racional, Homero era um louco.
Considera-se um diabo por ser poeta?
AV: Nem Deus, nem diabo. Até provas em contrário sou um ser humano, limitado, fraco. Às vezes falta-me o corajoso, sou alguém que não tem muito jeito para dançar, nem para cantar, nem toca nenhum instrumento musical, mas gosto de música e dança.
E os seus poemas servem para os cantores cabo-verdianos cantarem?
AV: Só se for um estrangeiro, porque o cantor cabo-verdiano tem uma regra, uma religião, só se exprime em crioulo, em português é muito raro. Você consegue ouvir 3,4 mornas em português, o resto é crioulo. Pouca gente entende os meus poemas, é uma verdade.
Por isso, inventou heterónimos?
AV: Não, inventei um pseudónimo. Os heterónimos é uma invenção do Fernando Pessoa que é só dele. Ricardo Reis é um deles, que se torna um personagem de Saramago e de certa forma ele torna-se também um heterónimo do escritor, esta nele, qualquer escritor dramático escreve em várias vozes, as personagens não são iguais, tem o herói e o bandido, o escritor quase se desdobra, ele conhece o santo, porque esta nele, mas também conhece o diabo. O homem bom nunca teve um rival? Nunca ninguém lhe passou uma rasteira? Nem nunca desejou matar alguém? O mundo perfeito era uma chatice, não digo onde houvesse pobres, mas se tudo corre-se bem, se fossemos todos imortais, bonitos e jovens, isso era uma grande maçada. É um dilema, porque Hamlet diz “to sleep is to die, do die is to sleep” mas ele não quer morrer, quer dormir, mas se calhar quer ter um sono longo.
A eternidade é a sua obra?
AV: Não isso é impossível, porque o nosso sistema, a nossa galáxia desaparece.
Mas, os livros ficam.
AV: Sem sol morremos.
Não lhe interessa ser imortal através da sua obra?
AV: Imortal sim, mas com períodos em que seria morto para voltar. Sempre acordado não, é como se deixasse de dormir, para mim seria o inferno. Eu gosto de dormir, mas também gosto de acordar. O bom é não ter extremos.
A tela desce


O Teatro municipal Baltazar Dias disponibiliza todas às terças-feiras visitas guiadas em português e inglês, às 10 horas, as suas instalações onde poderá apreciar as obras do artista Afonso Costa e os bastidores do próprio teatro.
Henrique Afonso Costa, mais conhecido como Afonso Costa como assinava, instalou-se na ilha da Madeira, na teia do teatro Baltazar Dias ao longo dos anos 70, como artista residente, com o intuito de desenvolver diversos trabalhos artísticos, através da produção de cenários, adereços para os vários espectáculos e executou inúmeros restauros no seu interior. Só muito recentemente o espólio tem vindo a ser alvo de um estudo por parte de Sara Canavezes, técnica superior de história da arte da edilidade do Funchal, que tem vindo a estudar o trabalho deste artista, nomeadamente, as pinturas e durante esse processo de catalogação, como refere “verificámos a existência do telão, que constatei ser de Afonso Costa que já estava a estudar e que continua intacto tal como foi pintado em 1978”. Há mais de vinte anos que esta obra não era vista já que o sistema de roldanas e contrapesos estava avariado, só recentemente foi possível descer graças a um novo mecanismo que foi instalado pelos técnicos do teatro. Numa iniciativa inédita à Câmara Municipal do Funchal pretende abrir este espaço cultural ao público semanalmente com o objectivo é mostrar o telão que não usado, mas que de acordo com o técnica possui “muito valor cultural e artístico. Queremos mostrar mais património, não apenas o aspecto visual, ou seja, as peças de teatro e os concertos musicais, possuímos arte plástica que pretendemos dar a conhecer”. A peça é única no seu género, porque adianta “pelo menos cá na região não temos outros, porventura, haverá mais obras no teatro D. Maria em Lisboa, como já não usámos estes sistemas há muitos anos, já que utilizámos actualmente a projecção de vídeo. O telão torna-se único no seu genéro, porque a sua função é diferente, ficava à frente, era usado nos intervalos das peças de teatro, para o efeito possui oríficios discretos que permitiam os técnicos, ou a produção verem o público, para verificar se estava tudo calmo, controlado, ou se estavam a gostar ou não das obras em palco”.
Podcast
Eventos
-
MMI- Reabertura de aquário dos bacalhaus
17-09-2016
O Museu Marítimo de Ílhavo reabre o Aquário dos Bacalhaus, depois de um período de obras de...
-
Cineteatro louletano- Programa Dezembro
 12-02-2016
12-02-2016
No dia 15, sexta-feira, às 21h00, há uma estreia que resulta de uma coprodução entre o Cineteatro...
-
Teatro Baltazar Dias-Programa Dezembro
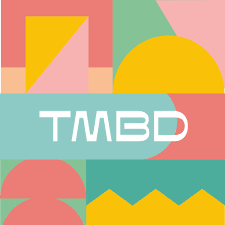 12-09-2015
12-09-2015
O último programa do ano que encerra como sempre com música... Feliz ano novo 2025...
-
CCVF e CIAJG- Concertos e Guidance
 06-06-2015
06-06-2015
A Oficina desvenda os primeiros dois concertos de 2025, a 18 de janeiro e 26 de fevereiro, no Centro...
















