Yvette Vieira
Quintentos- celebração do incontornável


Cláudio Garrudo é produtor e fotógrafo e ainda co-fundador do “bairro das artes-a rentrée cultural da sétima colina de Lisboa” da associação de arte contemporânea “isto não é um cachimbo e do “I love Bairro alto”. A sua última exposição, esta patente na Casa das Mudas, na Calheta, até o dia 31 de Outubro e possui cinco obras que foram inspiradas na ilha da Madeira.
Fala-me um pouco sobre esta série que se debruça sobre a natureza. Porquê a escolha de este tema?
Cláudio Garrudo: Foi uma necessidade que tive de voltar às raízes, porque sinto que com este ambiente de crise que se vive na Europa e em Portugal as pessoas estão depressivas e com graves problemas. Então, quis fazer algo que chegasse até elas e lhes desse algum prazer, inclusive para mim ao fotografar e criar obra. Possui esse lado de contemplação que serve um pouco para atenuar essa carga pesada de quem têm sofrido perante esta recessão que nos assola.
É curioso que digas isso, quando se trata de um trabalho de luz e de sombra.
CG: Sim, mas é um trabalho que nos transporta para uma natureza, pelo menos é o que quero, que transmite paz, tranquilidade e serenidade.
Então, porque escolheste branco e preto?
CG: As fotografias são todas as cores.
São? Mas, não parecem.
CG: Não tem nenhuma pós-produção. O que acontece é que como fotografo quando o sol esta em contraluz as imagens parecem ser a preto e branco, mas estão a cores, os contrastes são gerados pela própria luz que esta do lado oposto. E costumo dizer que há fotógrafos que são pintores frustrados, eu assumo a minha quota-parte sem problemas. O que quis fazer também com este trabalho é que fosse coerente em relação aos trabalhos anteriores, criar uma relação muito forte com a pintura, o que tentei fazer é estar a pintar com a câmara fotográfica. Eu escolho um eixo em que me situo debaixo das árvores e faço vários disparos consecutivos. Quase são como pinceladas.
200 Plantas do SW Alentejano & Costa Vicentina

É o primeiro guia de flora sobre estas zonas do sul de Portugal, numa edição bilingue, Português e Inglês, da autoria de Ana Luísa Simões e Ana Carla Cabrita.
Trata-se de uma obra que visa introduzir à flora do Sudoeste Português, dirigida ao público em geral, e que apresenta 200 das cerca de 1000 plantas existentes na costa sudoeste. Uma escolha natural, porque é uma das últimas e mais importantes extensões de litoral selvagem do sul da Europa, de uma imensa riqueza, florística e faunística reconhecida graças ao estatuto de Parque Natural, a nível nacional e a nível europeu, com a inclusão na Lista de Sítios de Importância Comunitária, como Zona Especial de Conservação.
O guia possui fichas com a fotografia de cada planta, o nome científico da espécie, a família botânica, os nomes comuns em português e inglês e uma breve descrição. Inclui ainda toda a informação referente a altura da planta, o período de floração, o ciclo vegetativo, o habitat e o estatuto de protecção. As fichas estão organizadas pela cor da flor, facilitando a identificação no terreno.
Este livro da autoria de Ana Luísa Simões e Ana Carla Cabrita resulta da investigação e compilação toda a informação relativa às plantas ao longo de dois anos. De acrescentar, que o projecto de criação do Guia das “200 Plantas do SW Alentejano & Costa Vicentina” surgiu da constatação de uma lacuna no que respeita à oferta de publicações de vulgarização representativas da flora deste território, capazes de auxiliar os profissionais de turismo, animação e educação ambiental, e favorecer a aproximação dos habitantes às zonas naturais.
A serena tentação de angola
Aline Frazão nasceu em Angola, mas desde o lançamento de” Clave Bantu”, o seu primeiro álbum, até ao mais recente “Movimento”, ela tem levado as suas palavras e a sua voz doce e serena a vários palcos do mundo.
Vamos falar do movimento em que se distancia do álbum anterior?
Aline Frazão: Em primeiro lugar o “clave bantu” foi feito com muitos pouco meios, não foi uma grande produção, a formação foi mais reduzida, foi uma primeira experiência em estúdio e “movimento” é um disco com outras condições que me permitiu de certa forma ganhar uma pesquisa de linguagens musicais, uma mistura de sonoridades, que corresponde aquilo que sou.
É um disco mais urbano ou não?
AF: É um pouco menos selvagem, “clave bantu” é um disco mais visceral. É um trabalho que conforme os anos vão passando eu tenho cada vez mais carinho porque é um álbum muito gritado e autêntico. Não há um limite e os sentimentos em estado bruto e o “movimento” é um disco mais trabalhado e melancólico, tem mais nevoeiro. Costumo dizer que Luanda que é a minha cidade, que esta presente em muitas das minhas músicas é um personagem invisível, não é a cidade da euforia e do crescimento económico, é uma Luanda de solidão, de cima do terraço de um prédio, de um observador, de um sujeito que observa o que se esta a passar e esse olhar pode envolve sentimentos positivos ou não e muitas vezes é o contrário que acontece. É um disco mais cinzento, pouco colorido ainda que tenha muito movimento sonoro e tem cor pelo ritmo africano, por mais que estejas a contar uma história trágica sempre tens vontade de dançar. Mas, é um disco mais coerente, foram canções escritas num espaço de tempo mais curto, fiz uma compilação de 4 anos a escrever músicas, havia muitas oscilações, as primeiras eram mais simples e as últimas eram muito complexas, como o “caminho do sul” com um compasso estranho e meio apocalíptico, é como o primeiro livro de um escritor que tem muitas coisas para dizer em cada frase em que colocas tudo com uma grande avidez.
É curioso que digas isso, embora o teu primeiro disco fosse feito com poucos meios, tiveste muita gente conceituada a escrever para ti, escritores. Dás muita importância à palavra? Porque isso também se nota no segundo álbum, “movimento”.
AF: Eu dou toda a importância a palavra. Não concebo o meu trabalho, nos discos que fiz até agora sem o peso das palavras. Cada vez mais me vejo como uma cantautora, por causa dessa ligação que tenho com a escrita, com a literatura desde pequena. Eu vejo a música independente da palavra, por isso é que uma das riquezas da linguagem musical é que é universal, a pessoa ao ouvir um Vivaldi não necessita de poesia para o sentir, mas no meu caso, eu vejo a música como uma forma de comunicação e sou uma pessoa de essa área, gosto de comunicar ideias concretas.
É assim que começas pela escrita das letras e só depois crias as melodias?
AF: Sim, 90% das vezes começo com a palavra. Ela cria um ambiente, um ritmo que vou explorando na minha guitarra. Não sou uma guitarrista muito virtuosa e então os caminhos musicais passam pela exploração de muitas coisas, às vezes, sigo a minha intuição. A palavra é a coluna vertebral de tudo o que faço.
É carnaval ninguém leva a mal

É uma das épocas do ano mais populares em alguns pontos do globo.
Mais do que uma moda passageira, o Carnaval acaba por ser um reflexo da sociedade em que vivemos e obedece a um código de vestuário no mínimo original y se em alguns países da América latina menos é mais, na Europa, por outro lado, este evento adquire contornos mais subliminares, há uma maior crítica social subjacente, é uma reinterpretação humorada dos tempos em que vivemos e das “personalidades” que marcam as agendas políticas, económicas e sociais de cada país. Salvo raras excepções como é o caso do Carnaval de Veneza com os seus trajes e máscaras luxuosas que nos remetem para um mundo de fantasia onírica e depravação consentida, o período carnavalesco na sua essência é marcado por grandes festividades onde se come, bebe e se saí em busca dos prazeres incessantes, disfarçados ou não.
A própria palavra Carnaval que tem a sua origem no latim reporta-nos para esses excessos, “carnis” significa carne e “valles” significa prazeres. Assim, não é de estranhar a falta de indumentária nos países a sul da linha do Equador e despudor no resto do mundo. A mim, por outro lado, o que mais atrai e surpreende a cada ano que passa é a originalidade e criatividade dos fatos, a espectacularidade das troupes e o empenho das pessoas em aproveitar da melhor forma esses três ou mais dias de puro deleite indulgente.
O que mais diverte contudo, é que existem clássicos que nunca passam de moda nos percursos carnavalescos, no topo dos disfarces mais populares um pouco por todo o mundo…Tacham, não podem faltar os homens vestidos de mulheres. É verdade, é simplesmente reconfortante vê-los “sofrer” durante horas no alto dos seus saltos altos, puxando para baixo as bainhas dos seus vestidos cintilantes que não conseguem ofuscar os tufos de pêlos que teimam em sair pelos decotes e outras zonas inferiores dos seus corpos mais ou menos musculados e que cobrem ainda, as suas belas pernas! Outro disfarce incontornável do Carnaval é sem dúvida o religioso, quer seja vestido de padre, ou freira, bispo, franciscano ou papa, tudo vale na hora de “benzer” ocasião tão festiva e interpretações eloquentes é o que mais abundam. A minha terceira e última escolha recaí sobre as enfermeiras marotas, não há corso carnavalesco que se preze que não possua uma “profissional” digna do seu nome, mostrando tudo o que tem de melhor para estimular a melhoria súbita dos pacientes. E para o ano há mais!
Do sonho nasce a obra

A yellow star company não se limita a concretizar sonhos, é também uma produtora que aposta no teatro, através de tournées que se realizam um pouco por todo o país, como relata o reponsável Pedro Sousa Costa.
A yellow star company não se limita a concretizar sonhos, é também uma produtora que aposta no teatro, através de tournées que se realizam um pouco por todo o país, como relata o reponsável Pedro Sousa Costa.
Não tendo em conta apenas o actual panorama nacional, é difícil ser uma entidade que promove eventos culturais no nosso país? Ou não?
Pedro Sousa Costa: Sim, bastante. Mas queremos e vamos continuar a contrariar a tendência de apenas se produzir teatro em Lisboa e no Porto. Todas as pessoas têm direito a ver teatro e nós temos vindo a contribuir bastante para isso. Só entre Dezembro de 2013 e Dezembro de 2014 tivemos 122.533 espectadores, em todo o país. No caso da nossa vinda ao Funchal, tivemos o privilégio de uma entidade privada ter acreditado nos nossos espectáculos e convidarem-nos a cá virmos.
Com a quase ausência de apoios do Estado o futuro da cultura passa pelos privados?
PSC:Não é verdade que o Estado não apoie a cultura, basta ver a quantidade de apoios pontuais e anuais que a DGartes atribui por ano, assim como outros apoios da Secretaria de Estado da Cultura. De facto não há para todos e houve muitos cortes, mas os apoios continuam a existir. Nós é que nunca tivemos nenhum do Estado, mas nem por isso deixámos de produzir teatro, pois felizmente temos muitas marcas que acreditam no nosso trabalho e nos têm apoiado bastante. De qualquer forma, não acredito no modelo em que o Estado tenha de patrocinar cultura que muitas vezes nem público tem.
Qual é a sua perspectiva sobre o teatro nacional? Já que promove dois projectos teatrais “boing boing” e a “bela e o monstro”?
PSC: Como lhe disse, no espaço de um ano, tivemos mais de 120 mil espectadores e não foi apenas com o Boeing-Boeing e com a A Bela e o Monstro, pois produzimos também o “Casado à Força” de Moliére, o “Conto de Natal” de Charles Dickens, a “Gisberta”, e isto apenas em 2014. Como tal, não podia estar mais otimista quanto ao teatro nacional.
Como define o público que aparece nos espectáculos? Há algum gap geracional?
PSC: Felizmente temos descoberto novos públicos e de todas as idades.
Porquê a escolha do “boing boing” para ser adaptada? O que o atraiu nesta peça de teatro?
PSC: Já adaptei e produzi outras peças, como “A Noite” de José Saramago. Neste caso quis uma peça que fizesse rir bastante o público, que anda a precisar.
É mais seguro apostar em dramaturgia estrangeira do que na nacional? Se não porque a escolha de adaptações para as vossas peças no geral?
PSC: Há textos dramatúrgicos nacionais muito bons. A prova foi o sucesso que “A Noite” de José Saramago teve, com mais de 12,000 espectadores.
De que forma o yellow star company pretende evoluir nos próximos anos?
PSC: Apostando na qualidade dos textos, dos elencos e das equipas com quem trabalhamos. O sucesso acaba por aparecer com naturalidade.
O observador da natureza


O Daniel Pinheiro é um jovem fotógrafo e cineasta da vida selvagem. Recentemente destacou-se por um filme intitulado “Portugal Selvagem” que mostrava imagens captadas em território nacional que correram mundo e que fizeram as delícias dos portugueses que na sua grande maioria desconhecia a riqueza das suas áreas naturais.
A pergunta mais óbvia é porque fizeste o vídeo com a compilação dos teus trabalhos?
Daniel Pimenta: Este trabalho é o resume dos meus quatro anos de trabalho, dígamos que tem imagens de três filmes que fiz para tv e outros trabalhos em curso que tenho até agora. É um portefólio.
Porquê o fizeste agora? Existe um motivo em particular ou não?
DP: Todos os anos o faço o “show real” e vou acumulando. Este vídeo tem imagens de quatro anos e esta mais completo em relação a outros que fiz em anos anteriores.
O facto de teres sido destacado pelo “vímeo” trouxe algum reconhecimento ao teu trabalho? Alguma projecção ou não?
DP: Penso que sim, é uma plataforma bastante boa, não tanto como o “youtube”, mas é um site mais para pequenos produtores ou empresas do audiovisual e claro que dá alguma visibilidade este reconhecimento.
Queria agora falar sobre o teu trabalho, fazes fotografia e filmes documentais sobre a natureza, reparei que há imagens que aceleras. Como se prepara um trabalho destes?
DP: Essa é uma componente técnica, mas tem filmagens na sua maioria normais que são aceleradas dígamos. O “timelapse” é um cenário mais nítido tem as nuvens a passar, ou visualizas a via láctea, ou estrelas, seja o que for, é um componente cénico que o filme leva e que é feito na sua grande parte com imagens tanto dos animais, como das paisagens. Resumindo em poucas palavras faço documentários sobre o meio natural, tenho os meus projectos pessoais, procuro outros e vejo se há parcerias possíveis com as universidades, com os grupos de investigação ligados à natureza, e trabalho sempre com eles. Se é possível e tem sido com os filmes que fiz até agora o “Mondego”, “entre o céu e a terra” e o “Alentejo-o canto da terra” foram parcerias locais com o Instituto de Conservação da Natureza, com organizações não-governamentais e as universidades, essa é a primeira fase. Depois faço uma pesquisa do potencial de um determinado local, se tem animais ou espécies suficientes para fazer a história, depois avançámos para a parte do financiamento e só mais tarde filmámos.
Mas, por exemplo, “Alentejo-o canto da terra”, as filmagens foram feitas com câmaras que colocas no local?
DP: Também, mas estou sempre lá, as câmaras nunca estão só a gravar sozinhas.
Linces à solta

Os dois linces ibéricos que foram libertados em cercado de solta branda no passado dia 17 de Dezembro, em Mértola, já vivem livremente.
Os dois linces ibéricos que foram libertados em cercado de solta branda no passado dia 17 de Dezembro, em Mértola, já vivem livremente. O momento assinalou o início da reintrodução da espécie em Portugal com vista à reversão da situação de extinção em que se encontram os felinos. Nos próximos meses, mais oito linces deverão ser entregues ao seu “habitat” natural.re a Associação Nacional de Proprietários Rurais Gestão Cinegética e Biodiversidade (ANPC), num comunicado enviado à agência Lusa.
A ANPC congratula-se com o "momento histórico" da "libertação efectiva na natureza" dos dois primeiros linces ibéricos criados em cativeiro e introduzidos em Portugal, no âmbito da reintrodução da espécie no país.
Segundo esta associação, trata-se dos "primeiros dois de vários" linces ibéricos que "serão introduzidos em Portugal no decorrer dos próximos meses", depois de já terem sido libertados em Espanha "várias dezenas" de exemplares da espécie criados em cativeiro.
A ANPC enaltece "a forma como o processo tem estado a ser conduzido" pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e pela equipa do PNVG com o envolvimento de vários técnicos e especialistas que seguem os dois linces libertados em Mértola e que estão "em busca de um território para se instalarem".
"Existe ainda esperança de que a fêmea possa ter engravidado durante o período de aclimatação, que coincidiu com o início da época de reprodução, e que a primeira ninhada de linces nascidos em Portugal na natureza, depois de várias décadas sem qualquer registo confirmado, possa estar para breve", refere a ANPC.
Pelo meu relógio são horas de conhecer...os mão morta

Os mão morta quase dispensam apresentações, embora sendo assumidamente alternativos, ao longo dos anos, tem construído uma carreira notável em termos de longevidade e qualidade musical, aos quais acrescentaram um novo trabalho discográfico, "pelo meu relógio são horas de matar".
O novo álbum "pelo meu relógio são horas de matar" tem sido polémico por causa do video de lançamento. Mas, afinal é hora de matar o quê?
Adolfo Luxúria Canibal: Essa pergunta devia ter sido feito antes da polémica. O título do álbum é um verso de um poeta português realista, o António José Forte, que viveu em Lisboa nos 40 e 50, mas é de Santarém. É uma frase fortíssima, que ele emprega por duas vezes, em dois poemas distintos. Na segunda vez que o utiliza é a propósito de poemas de amor e achei por bem utilizá-lo. "No meu relógio são horas de matar" é essa ligação ao António José Forte e vincar que estava a utilizar um frase desviada. Tem tudo a ver com a narrativa, com a história e a ficção que é todo o disco, é um personagem dos tempos modernos, do irrealismo solitário que de repente se dá conta que o seu bem-estar está em causa e repara finalmente que não vive sozinho no mundo e que os outros solitários, os restantes indivíduais, também estão postos em causa. Há uma espécie de solidariedade entre solitários, que tem um crescendo, uma espécie de consciência colectiva, que acaba por ser uma história narrativa e que apresenta soluções mais uma vez individuais. No fundo é a substância, é a personalidade dos personagens em que tentei encontrar culpados para a degradação desse modo de vida e dar-lhes um fim. Este matar é fisíco dígamos, mais uma situação.
Não é também sobre uma sociedade cada vez mais solitária, porque fala dos irmãos solitários?
ALC: Exactamente. É um determinado tipo de fim civilizacional dígamos assim, de um tipo de economia, de relações interpessoais, de um relacionamento mercantilizado e que passa muito pela imagem e não pelo coloquial, passa pela mediatização e não pela relação directa, no fundo é isto que procuro neste personagem. Quero dar um fim, matar este tipo de situação, de vida que possui.
Em 1998, em Charles Mason, também falava "em parar o relógio e vamos para a revolução" e agora em 2014 voltámos ao mesmo tema. Se pegarmos neste fio condutor há uma certa incongruência.
ALC: "O parem o relógio" é uma canção diferente de "o horas de matar", apesar de ambas referirem relógios e o tempo. "O parem o relógio" é uma espécie de fuga ao tempo, que é um tema que esta sempre presente nas canções dos mão morta, nesta angústia do estar sempre a fugir, de não conseguirmos mudar o nosso presente, o nosso quotidiano de forma a termos uma vida mais preenchida, de forma que o tempo está-nos sempre a fugir, a avançar e não conseguimos mudar, então "o parem o relógio" é neste sentido de parem o tempo para mudar as coisas, porque o tempo não nos esta a dar tempo. É um grito de aflição, parem o relógio! Aqui "são horas de matar" tem um sentido diferente, é hora de fazer alguma coisa.
Por caminhos arcanos errei

É a nova obra do jovem escritor Jorge Ribeiro de Castro, trata-se de um romance policial que nos remente para um castelo ensombrado por um segredo que o autor não quis descortinar.
Escreveste "por caminhos arcanos errei" quando tinhas vinte e um anos. E só passado vários anos é que decidiste editá-lo. Por isso pergunto, fizeste muitas alterações?
Jorge Ribeiro de Castro: Quando comecei a escrever o livro não sabia o que ia acontecer. Iniciei apenas o primeiro capítulo, mas depois pensei que como gostava imenso de Sir Conan Doyle, porque não escrever uma história em forma de policial? O drama passasse num castelo com centenas de anos.
Fala-me da linha condutora do policial? Quais foram as primeiras personagens que surgiram?
JRC: As primeiras foram o John, depois o conde Marius e a filha dele, a Kirsten, a Isabella que trabalha na estalagem que mais tarde dá-se a conhecer e o holândes que passou por vários sobrenomes.
Qual dos personagens constituiu um desafio em termos de construção?
JRC: O cocheiro que trabalha no castelo, é um empregado. Quando comecei a descrever esse personagem pensei que ia ser uma coisa, mas no final acabou sendo outra, não vou dizer o quê.
Escolheste um determinado castelo porque tem uma conotação em particular?
JRC: Eu gosto de castelos, desde que criança sempre senti um grande fascínio por este tipo de construções, devido as passagens secretas e as historias mirabolantes que possam ter acontecido nesses espaços quiça casos amorosos, traições, lutas e ainda por cima são uma espécie de fortalezas. Eu vivo perto da fortaleza do Pico e vejo essa beleza arquitectónica todos os dias, depois gosto de conhece-la melhor através de documentários e filmes, é fascinante. Por isso, castelo Wolkesnacht não existe, bem, apenas na minha imaginação.
A escrita foi um processo difícil ao longo deste anos? Houve momentos em que tiveste pausas e pensaste desistir?
JRC: Eu estive a escrever o livro constantemente e terminei-o em 1998. Decidi melhorá-lo, porque chegou o momento de editá-lo em ebook e pensei porque não aprimorá-lo substancialmente? Ou seja, vir com um epílogo que explicava a atitude estranha de uma certa personagem durante todo o romance. Mas, eu estive a escrever muitas outras histórias, durante os anos 90, que agora vão sair em livro, intitulado "reliquías, poéticas e antiguidades", será editado em Fevereiro, tem 17 contos e 12 poemas, portanto não estive parado com este livro, ou à espera que continuasse qualquer coisa, apenas tive outras ideias que desejava escrever. Em Junho de 2014 editei o cortejo das virtuosas solenidades, que possui oito contos. Neste tempo todo estive a melhorar a escrita, escrevi outras coisas também, letras para bandas, colaborei com várias revistas, tive este livro em hibernação, porque surgiram várias ideias que decidi avançar.
Quais os teus personagens preferidos? Ou um dos que tens um carinho muito especial?
JRC: Eu não posso falar de uma delas, porque sou lendo o livro é que se descobre a personagem, mas o Jonh tem muito a ver comigo.
É o incurável romântico?
JRC: Sim, ele apaixona-se por alguém que, ao seu ver, tem uma forma de ser, uma intelectualidade que ele não encontra nas outras mulheres que conhece na Inglaterra.
O contador de histórias negras


João Pina é um jovem fotojornalista que aborda nos seus projectos pessoais a fotografia do ponto de vista documental, de memória colectiva, que procura retratar a história das sociedades do ponto de vista social e político sob a forma de imagens, é o caso do Condor, um livro marcante sobre um episódio negro da América do Sul, que será apresentado no próximo dia 4 de Fevereiro, na Fundação Calouste de Gulbenkian, em Lisboa.
Porquê de todos os conflitos bélicos escolhes à América do Sul e a operação Condor?
JP: Os meus avós foram presos políticos em Portugal e isso fez com que começasse a recolher testemunhos e a abordar pessoas que tinham sido presos políticos em Portugal. Tudo isso deu origem ao meu primeiro livro, "por teu livre pensamento", que saiu em 2007 apenas em português. Ao mesmo tempo que estava a terminar esse trabalho, que desenvolvi entre 2001 e 2004, e posteriormente foi difícil de produzir e publicar, enquanto estava nesse compasso de espera, fui trabalhar para à América do Sul, quando me apercebi que o projecto que tinha desenvolvido em Portugal tinha importância e que não deveria parar por aí. A ideia era, o que podia continuar a fazer neste âmbito? Trata-se de uma temática pouco explorada fotograficamente e foi aí que me deparei com esta operação. Para os que não sabem, Condor foi um plano militar, idealizado a finais dos anos 70, mais precisamente em 1975, que resultou de uma reunião secreta, que decorreu no Chile, onde se encontraram os responsáveis dos países da região que eram comandados por ditaduras militares. Eles sentaram-se à mesa com o intuito de arquitectar um plano para terminar com as suas respectivas oposições políticas e até 1992 não haviam provas de que tudo fosse verdade. Peguei nesse conceito, nessa história e foi ver o que conseguia fazer com isto. Esta ideia do Condor foi um tanto quanto peregrina, porque já tinha feito Portugal e agora fazer a América do Sul toda demorou nove anos. Sendo que não era nada óbvio por onde começar, o que fotografar e passei a maior parte deste tempo a tentar informar-me para perceber o que tinha acontecido, onde e ver as diferenças entre um país e outro. Esse foi o mote original deste livro.
Acabaste de dizer que foi um percurso de nove anos, então por onde começaste? Qual foi o primeiro país que visitastes e onde obtiveste as informações?
João Pina: Eu descobri a existencia da operação Condor em 2005. Tive de saber como tinha sido em cada país, porque o facto de ter existido não implicava que tivesse funcionado da mesma maneira em todas as ditaduras. Por uma razão práctica comecei pelo Brasil, a minha irmã vivia lá e eu já lá tinha estado, fui até o Recife, no Nordeste, onde existia e há uma arquivo importante, que pertence a uma organização não governamental chamada "tortura nunca mais" e passei um mês procurando neste espólio, o macro para perceber o micro. Então necessitava de entender o que tinha sido em linhas gerais a forma como o Brasil tinha reprimido as pessoas para entender a especificidade da repressão da ditadura brasileira, para conseguir visualizar alguma coisa e fazer isto de país a país. Depois mudei-me para a Argentina, não só porque esta história estava muito mais próximo de mim, mas também porque não estava, nem esta encerrada. Hoje em dia continua a haver julgamentos e muita coisa a acontecer em alguns destes países e de facto permitia-me um olhar sobre estes eventos de mais perto. Eu comecei basicamente, para responder a tua pergunta, por ir para Recife investigar, fiz algumas entrevistas lá e foi abrindo um pouco o leque. Depois este projecto concidiu com as primeiras eleições na Bolívia que fui cubrir como fotojornalista. Pelo meio ia tirando tempo para falar com os ex-presos bolivianos, perceber o que se tinha passado e assim foi começando a construir este puzzle que demorou muito tempo, porque é uma área muito grande e eu tinha recursos muito limitados. Ia fazendo tudo no intervalo de outros trabalhos, ia dedicando mais tempo aos lugares, falava com as pessoas e começava a visualizar que imagens que queria fazer. Isto em traços gerais. Em 2010 fui da Argentina para a França, onde estou actualmente e não dava para ir e vir da América do Sul, felizmente estavam a começar as plataformas de crowdfunding, neste caso usei a "emphasis" que era dedicada ao fotojornalismo e fotografia documental, então apresentei o projecto e com o montante angariado consegui financiar à minha última viagem para o Brasil onde produzi trabalho, depois no regresso arranquei com uma segunda e terceira campanhas que me permitiram fazer uma viagem até seis países e terminar a produção fotográfica deste trabalho.
Há pouco abordastes as especificidades destes países, a que te referes? O que diferenciava a ditadura brasileira, da bolíviana e da argentina? Embora esta última ainda seja recente e como referiste continua muito actual.
JP: Em termos históricos e que é clara em todas elas, é o envolvimento da igreja católica. No Brasil grosso modo, com excepções, criou-se uma plataforma chamada "clamorr", sob a alçada do arcebispo de São Paulo, que protegia uma série de pessoas que estavam a ser perseguidas e portanto é a igreja que lhes oferece protecção e publicidade as suas causas para que muito mais dificilmente fossem presas e torturadas e isso funcionou muito bem. Na Argentina, pelo contrário, os clérigos entregavam directamente os que os vinham procurar e essa foi uma das diferenças mais radicais e que me apercebi desde o ínicio, enquanto que havia o Dom Paulo Evaristo Arns, no Brasil, a proteger pessoas e a escrever cartas aos ditadores a perguntar por pessoas desaparecidas, o seu paradeiro, na Argentina, por outro lado, há pelo menos um padre que esta preso, Christian Von Wernich, que chamava os militares para prenderem pessoas que vinham com o intuito de pedir abrigo e ajuda para encontrar os seus familiares. Esta obviamente é uma forma muita resumida de abordar o "Condor", contudo, só para terem uma ideia estão estimadas 60 mil vítimas desta operação, só na Argentina existem 30 mil pessoas que foram presas, torturadas e assessinadas e cujos os corpos desapareceram, como facilmente se pode deduzir quase 50% das vítimas são argentinos. O que não inválida que haja ditaduras mais ou menos brutais, a do Uruguay da qual se fala muito pouco, estima-se que tenha sido do mundo aquela com o maior número de presos políticos, portanto, o paradeiro dessas pessoas desaparecidas produz muito dor e isso ainda é muito visível nos dias de hoje, os traumas ao longo prazo, por isso, precisava de me aproximar e fotografar.
Então como é que se fotografam os desaparecidos?
JP: Pela sua ausência. Esse foi o eixo central do trabalho. Se virem o livro há vários capítulos, mas existem três pontos essenciais, os familares dos desaparecidos, os sobreviventes das ditaduras e os locais de tortura e desaparição. Portanto, fotografei muitos espaços que foram usados como prisões políticas e centros de tortura, que actualmente estão vazios, sem ninguém lá dentro, mas que são muito sinistros e incómodos. Depois fotografei os sobreviventes e os familiares e contei as suas histórias, imprensas em papel vegetal, por cima dos retratos dessas pessoas. O que também é muito importante focar são as fotos históricas de arquivos que consegui reproduzir, tanto públicas, como privadas. São imagens, de 40 anos atrás, de provas documentais chamadas de "arquivo do terror" onde esta o convite do coronel Contreras Sepúlveda ao chefe de policia Francisco Brites, do Paraguai, para a reunião inaugural. Depois ainda aparece a acta sobre a operação Condor, com todo aquele léxico militar, que explica em detalhe o plano e como seria executado.
Era um trabalho que tinha de ser a preto e branco pelo horror?
JP: Não, o trabalho foi a preto e branco, porque gosto muito de fotografar dessa forma. Não gosto de me distrair, de ter de me focar na cor, gosto da leveza desses tons, por isso uso-os nestes trabalhos que faço. Foi um projecto feito de forma simples, usei uma única máquina, duas objectivas, uma de 50 e outra de 80 milimetros. Foi um trabalho com filme dos anos 30, tudo revelado com o mesmo revelador e na mesma temperatura. Eu não quis complicar tecnicamente, já era um projecto complexo o suficiente para ainda estar a fazer grandes variações.
Podcast
Eventos
-
MMI- Reabertura de aquário dos bacalhaus
17-09-2016
O Museu Marítimo de Ílhavo reabre o Aquário dos Bacalhaus, depois de um período de obras de...
-
Cineteatro louletano- Programa Dezembro
 12-02-2016
12-02-2016
No dia 15, sexta-feira, às 21h00, há uma estreia que resulta de uma coprodução entre o Cineteatro...
-
Teatro Baltazar Dias-Programa Dezembro
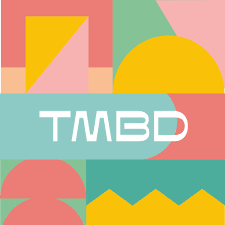 12-09-2015
12-09-2015
O último programa do ano que encerra como sempre com música... Feliz ano novo 2025...
-
CCVF e CIAJG- Concertos e Guidance
 06-06-2015
06-06-2015
A Oficina desvenda os primeiros dois concertos de 2025, a 18 de janeiro e 26 de fevereiro, no Centro...
















