Yvette Vieira
O vendedor de passados

É uma das primeiras obras de José Eduardo Agualusa que aborda as estranhas ligações que se encetam entre as pessoas, através de um passado ficcionado.
Félix Ventura é albino. Alfarrabista de profissão, nos seus tempos livres é vendedor de passados. Vive em Angola, mais precisamente em Luanda, numa pequena vivenda em comunhão pacífica com uma osga que dá gargalhadas e que é o nosso narrador de serviço. É a partir deste conjunto de elementos improváveis que partimos para uma narrativa imprevisível que surge com a venda do primeiro passado a um fotógrafo de guerra, José Buchmann que leva a sua nova história de vida para além dos limites impostos pela ficção criada pelo nosso relutante “historiador”. Esta é a premissa de um livro surpreendente, é novamente a magia do continente africano que povoa a escrita de José Eduardo Agualusa de uma forma tão intangível, mas ao mesmo tempo palpável. Gosto muito do título, do mistério que encerra e a imaginação solta-se antes de sequer ter pousado o meu olhar nas suas palavras. Ao ler as primeiras páginas aprecio que o narrador principal deste livro seja uma espécie de lagarta com a particularidade deveras curiosa (para além de outras que me abstenho de referir), dá risadas audíveis. Ao contrário dos outros escritores africanos que já referi nesta revista, Agualusa, não mergulha nessa alegre cacofonia linguística dos africanos, ele invade-nos com histórias inverosímeis de personagens fantásticas e tão inusitadas que embora não parecendo reais, como o pano de fundo é África tudo aparenta ser perfeitamente credível por mais estranho que o pareça ser. Não sei se me fiz entender? Melhor mesmo é que leiam este livro e se deliciem com este vendedor de passados. Boa leitura.
O brevário das más inclinações

É ficção baseada na lenda de José de Risso e escrito maravilhosamente por José Riço Direitinho.
A qualidade de um livro nunca se deve medir pela grossura da sua lomba. Há certos leitores que acreditam que uma boa obra de ficção no mínimo necessita de 250 páginas. Nada mais falso. O livro ocupa o espaço que o escritor entender, consoante a sua necessidade latente de despojar-se das palavras que o atormentam e que compulsivamente são eternizadas no papel. Tudo depende da forma como a história é contada. É o caso do “breviário das más inclinações”, que a título de curiosidade dispõem de apenas 162 páginas que nos deleitam sem necessitar de mais uma vírgula, ou de um ponto de exclamação. É uma obra que relata o romance de vida e morte de José Risso, um homem virtuoso, um curandeiro, marcado pelo destino nas costas por um sinal em forma de folha de carvalho. É um livro repleto de aromas e cheiros provenientes de tisanas que curam todo o tipo de maleitas, de mezinhas para sarar as infelicidades de amor e de emplastros para as feridas que teimam em não cicatrizar, no entretanto, o autor delicia-nos com este relato sobre a vida de um homem a quem atribuem uma capacidade sobrenatural para sarar e purgar todos os males de uma aldeia sobranceira à vizinha Espanha envolta numa guerra civil. Mas, a vida continua ao sabor das estações, em terra de superstições e lendas, onde somos testemunhas entusiásticas de uma escrita rica e perfumada que nos transporta para um mundo suspenso, de um Portugal que perdido entre as brumas de uma memória colectiva avessa as mudanças, mas repleta de personagens míticas que roçam o lendário, o fantástico e o fantasmagórico sem nunca nos defraudar. Já fazia um tempo que não lia algo assim. Boa leitura.
Longe do meu coração

É um livro catártico que não tem a pretensão de ser uma obra-prima da literatura, mas que encontrou o seu nicho no coração de milhares de portugueses que revêem-se nesta história sobre coragem, privação e amor, cujo epicentro é o movimento migratório para França. Um relato quase jornalístico escrito por Júlio Magalhães.
Tivestes sempre em mente a ideia de descrever uma história de amor, entre dois personagens completamente dispares em termos de educação, condição social e cultural?
Júlio Magalhães: Foi claramente por isso. São histórias que vi, que se passaram, que se concretizaram, foi muito o cenário da década de sessenta. Houve uma miscelânea muito grande entre portugueses e francesas que provocaram, na altura, uma grande agitação nessa sociedade. Os portugueses contribuíram muito para o desafio que se estava a lançar na época. Fui apresentar o livro á França, até porque eles são a maior comunidade estrangeira que reside naquele país. Em Paris vivem cerca de um milhão de portugueses, que ficaram lá para sempre. Uns casaram com portuguesas e outros com francesas. Houve uma grande interligação entre os dois povos. Eu queria abordar isso, patamares sociais diferentes, até porque os portugueses não tinham posses, eram trabalhadores da construção civil que viviam em bairros miseráveis e houve uma ligação entre eles e as francesas de escalões sociais mais elevados, apaixonaram-se e fizeram com que o amor prevalece-se em relação ao que eram essas diferenças.
Em França ao apresentar o livro, eles aproximavam-se e diziam-te: esta é a minha história?
JM: Quase todos. Era verdadeiramente a história deles, contada por diversas pessoas que viveram isso mesmo e que se multiplicam pelos milhares que emigraram para França, ou no caso dos retornados que vieram de África, ou mesmo no caso dos militares que foram combater para as ex-colónias. A história dos emigrantes na década de 60 é essa. Viveram todas essas mesmas experiências, o sofrimento e as humilhações. Alguns perderam a vida pelo caminho, outros amigos. É uma geração de portugueses que ainda hoje esta viva. É um livro baseado em factos verídicos e que vendeu muito, porque as pessoas sentiram que ali está expressa a sua vida. Não o escrevi com a ideia de ser uma grande obra literária, é uma grande reportagem em livro em que cada leitor sente que viveu aquele momento, sente que é o livro delas.
Já referistes isso mais do que uma vez, que não és um escritor, mas sim um jornalista que escreve, porque dizes isso?
JM: Primeiro porque é verdade. E segundo para me defender de um lobby muito poderoso que é o da literatura, que não dá acesso às pessoas que escrevem.
Os íntimos

É um retrato cru dos homens, da sua intimidade e do que eles pensam sobre o sexo feminino. É um livro escrito por uma mulher, Inês Pedrosa, que pretende mostrar o machismo e uma certa misoginia ainda muito patente na sociedade portuguesa.
Li numa citação que os escritores descrevem grandes personagens femininos e o mesmo se pode se pode dizer das escritoras femininas que criam excelentes personagens masculinos.
Inês Pedrosa: Eu não sei se disse exactamente isso, lembro-me ter dito, quando me perguntavam muito se não é difícil para uma mulher falar de homens, eu lembro-me de dizer que a Ana karenina de Tolstoi que é uma personagem inesquecível da literatura e que ninguém dúvida que é uma mulher de carne e osso, ou mesmo a madame Bovary, nunca se coloca esse questão aos homens.
Então é apologista dessa ideia?
IP: Eu penso que um escritor tem de saber pegar tanto no feminino, como no masculino, porque até para mim será mais difícil, num livro anterior chamado nas “tuas mãos”, escrever sobre uma protagonista com oitenta anos. É mais difícil pôr-me na cabeça de uma mulher com experiências que não tive e que tem uma idade que não tenho do que homens da minha geração ou pouco mais, como é o caso neste livro. É a mesma coisa que dizer, o que é uma mulher ou um homem em abstrato. Numa mulher de Trás-os-Montes que nunca foi à cidade, nem nunca viu o mar, com certeza que tenho menos conhecimento do que lhe passa na cabeça do que um homem urbano que tem uma experiência parecida comigo. Sobretudo, porque ao longo do século XX os dois géneros foram fazendo uma aproximação. Não total. Neste livro, o que achei graça e estamos num período de transição acelerado nos capítulos e nas relações entre os homens e as mulheres há certos rituais da masculinidade e feminilidade que se prolongam como uma tentativa de ficar em casa, no conhecido, ao mesmo tempo que o mundo novo já existe. Uma dessas situações são os jantares de amigos em torno dos jogos de futebol e até é um dos comportamentos mais característicos do sul da Europa pelo menos. Tenho grande amigo no Brasil, no Rio de Janeiro e um amigo dele disse-me que me tinha inspirado nos encontros do Paulo daí que também tem esse hábito dos amigos de liceu que já não tem nada a ver com os seus percursos profissionais. Não é um encontro entre o pessoal do emprego, é de rapazes que passaram por uma adolescência juntos, uma juventude e que tem profissões muito diferentes, experiências de vida diversas, até nem tem nada a ver uns com os outros no dia-a-dia, mas mantém aquela comunhão como uma família. E achei piada, porque afinal é mais vasto do que eu pensava, eu não sabia que esse meu amigo, que tem muitas amigas mulheres, que é do mundo editorial tinha esse ritual do jantar de dois em dois meses. O que quis tratar neste livro? Essa intimidade, essa amizade que tem ainda culturalmente características diferentes da feminina à partida uma maior permanência.
É mais verdadeira?
IP: Não, eu julgo como é mais superficial é mais permanente. As mulheres vivem a dar-nos e as amigas são um esteio muito mais violento, porque uma amizade entre mulheres quando se “rasga” é uma dor drástica, as vezes pior que uma ruptura amorosa, que uma separação e os homens como nesse caso aí, vivem de pequenas traições, compromissos e arranjinhos que é o mundo da política e dos negócios, esperam menos uns dos outros e não se esteiam nos amigos. É mais uma companhia física e aquela solidariedade quase animal.
A amante holandesa

É um romance de J.Rentes de Carvalho que toca várias vidas.
A história ao contrário do que se possa pensar não começa em Amesterdão, mas sim no ventre de Trás-os-Montes, numa aldeia perdida algures no interior de Portugal. É o relato sonhado ou não, (caberá ao leitor decidir) de um amor entre uma holandesa procedente de uma sociedade progressista, avançada e aberta e um português analfabeto proveniente de um país fechado em si mesmo, isolado e desinformado. Não é um romance qualquer, há um tom amargurado neste relato que finda de forma muito inusitada, diria até surpreendente, bem pelo menos pouco usual na literatura nacional. É uma fábula, chamemos-lhe assim, contada pelo Amadeu, mais conhecido pelo gato, ao seu amigo de infância do qual nunca ficamos a saber o nome, por entre as reentrâncias da montanha, onde ambos se perdem nessa divagação conjunta que os alheia de um quotidiano insuportável de que se escondem por motivos diferentes. É perturbador no sentido, em que vinte anos depois, estes dois homens reencontram nesse relato um conforto, ao que não é alheio o facto de ambos terem personalidades disfuncionais, que motivam o desprezo e repulsa do microcosmo social onde se movimentam, a aldeia e a cidade de Bragança. A amante holandesa é apenas o levantar do véu de algo muito mais perturbador, ignóbil, violento e insidioso que acaba por ser o reflexo da sociedade onde vivemos, embora me custe a admiti-o, talvez porque é uma descrição muito crua, sem subterfúgios. Para adensar um certo mistério sobre esta narrativa, apenas adianto que ao contrário do que se afirma repetidamente, tantas vezes que se tornou quase uma verdade absoluta quando não o é, não somos um povo de brandos costumes, muito pelo contrário. Mas, não se fie da minha percepção sobre este livro, leia e pense sobre o assunto. Boa leitura.
A boneca de kokoschka

Tem uma narrativa invulgar que prende o leitor desde o primeiro momento. É uma experiência já que não se limita à escrita, é ilustrado e até os caracteres mudam para dar maior ênfase á narrativa. É uma metáfora sobre o bem e o mal e que nos obriga a pensar e surpreende a cada capítulo.
Este livro tem um fio condutor muito invulgar. A história que dá o título está lá no meio, mas não percebemos muito bem como surge a ligação e depois temos uma surpresa. Quando o começastes a escrever tinhas essa ideia em mente?
Afonso Cruz: Sim, o conteúdo sobre a história da boneca de Kokoschka é real. O pintor Oskar Kokoschka mandou fazer uma réplica da mulher que amava, a Alma Mahler. É uma história muito romanesca, muito insólita e única, acho eu. Achei que era uma boa metáfora para uma série de coisas que vivemos na vida e portanto acaba por ser esse o pano de fundo para tudo o que acontece no romance. Há uma série de personagens que funcionam como essa boneca.
Seleccionastes vários tipo de letras para este mesmo texto, porquê? Eram importantes em que sentido?
AC: Este é um livro dentro de outro livro. Portanto, muda porque é outro. Tem uma capa e uma sobrecapa, como se fosse outro livro. Depois muda porque tem umas cartas que são importantes, tinha que parecer como se tivessem sido escritas por uma máquina de escrever e há uma outra parte que era necessário distinguir, porque é narrado na primeira voz e por isso é diferente do resto.
Porque escolhestes como pano de fundo a segunda guerra mundial e a cidade de Dresden? Tu conhecias algumas dessas histórias? Sei que já viajastes muito.
AC: As histórias são inventadas, com excepção da boneca. Mas, na altura quis escrever um romance sobre uma criança judia que servia de consciência a um alemão muito pouco dotado intelectualmente e quando refleti sobre isso pensei que o cenário ideal seria colocar esta história na Alemanha nazi. A escolha de Dresden acontece porque se trata de um sítio muito especial, ao contrário das restantes cidades, sofreu muito na mão dos aliados. Não é o que se espera. Normalmente sabemos das cidades que sofreram sob o jugo dos nazis, mas Dresden sofreu também muito com os bombardeamentos constantes das forças aliadas. E queria com isso reflectir um pouco sobre esta noção do bem e do mal, porque são os bons que destroem uma cidade com uma arquitectura muito especial.
Há uma personagem que tem sempre a boca aberta, porquê?
AC: Como referi a pouco ele não é muito dotado, está sempre espantado com as coisas que vê. Tem uma noção de vida muito diferente, ele é um pouco infantil também, ele vê o mundo um pouco como as crianças.
O contista

José Viale Moutinho é uma personalidade maior do que a vida, até em tamanho. Esta sempre atento ao mundo português que o rodeia e é sobre isso que escreve, recolhendo lendas, contos e adivinhas populares. É também poeta, romancista e tradutor de várias obras literárias que esquece porque tem sempre muito mais na sua mente inquieta.
Nestes últimos anos tem publicado diversos contos e lendas da cultura madeirense, porque sentiu a necessidade de faze-lo agora?
José Viale Moutinho: Não foi de repente. Já há muitos anos foi um dos refundidores da sociedade portuguesa de antropologia e etnografia do Porto, é uma instituição que foi fundada em 1927. Simplesmente muito depois do 25 de Abril, já nos anos 80 foi refundada, isto porque demos uma volta à instituição porque estava nas mãos do professor Santos Júnior e ele fazia daquele espaço uma casa sua, convocámos uma assembleia geral e apresentámos uma lista diferente com o Vítor Oliveira Jorge, um arqueólogo e ele ficou como presidente. Eu era o secretário-geral dessa organização, mas mesmo antes dessa altura já tinha feito outras recolhas em 1978 fiz um livro ilhas e romances da Madeira, tenho um cancioneiro sobre o povo português com o título “terra, canto e os outros” e os inéditos da Trindade Coelho e a sua importância etnográfica que saiu nos trabalhos de antropologia.
Mas, o que o atrai nessas temáticas?
JVM: Ao longo do meu percurso literário sempre fiz investigação no campo da literatura popular. É a linguagem do povo, do que ele gosta e do que conta. Isso é que importante, na Madeira nada estava sistematizado, havia umas recolhas espalhas por ai e bastante incompletas, isto no que diz respeito a contos e lendas. No romance, esse trabalho já estava feito pelo Pedro Ferrer e pelo David Pinto Correia. Há também outras possibilidades literárias, que serão as tradições populares madeirenses que irá sair agora em livro.
Afirma que depois de escrever os contos esquece-os todos?
JVM: Eu escrevi um livro com o maior número de adivinhas populares portuguesas, são mais de mil e na altura até sabias algumas e agora não me lembro de praticamente nenhuma. Acontece. Sai da cabeça e acabou. Eu uma vez fiz a revisão de um livro que era um roteiro sobre as ruas do Porto, ajudei a fazer aquilo e depois no final não sabia onde ficavam. São coisas que acontecem.
O dia dos prodígios

Foi o primeiro livro de Lídia Jorge a ser publicado em 1980, tendo sido reeditado recentemente pelo seu 30 º aniversário.
É um livro recheado de simbolismos que reflectem o país interior com um duplo sentido. Descreve o quotidiano de Vilamaninhos, no Portugal profundo, abalado por uma série de acontecimentos prodigiosos que ficarão na memória colectiva dos aldeões e ao mesmo tempo retrata primorosamente o estado de alma dos personagens que acaba por ser um espelho das idiossincrasias dos portugueses, numa era perdida no tempo. O mundo mágico de Lídia Jorge confronta-se ainda com outro evento que anuncia uma mudança no mundo, a revolução dos cravos, mas na aldeia tal momento histórico não abala o seu dia-a-dia, já que tudo se move da mesma forma, quase sem alterações. Sem a dita metamorfose. A aldeia apenas recorda desse dia que uma serpente voou perante o olhar incrédulo de Jesuína Palha e as restantes testemunhas, a mula de José Pássaro Volante fugiu e que da camioneta saiu um mancebo perguntando por Carma Prada, são estes acontecimentos inauditos que de facto marcam a vida das pessoas de Vilamaninhos e que provocam uma mudança. Mas, qual? Terá que ler o livro, mas deixo desde já um aviso, é uma leitura exigente, devido a sua riqueza linguística e na forma como é escrito. Alguns dos planos narrativos são fora do vulgar, ou seja, tem uma estrutura diferente que visa sublinhar o carácter mítico de alguns dos personagens e das suas vivências mágicas. Na altura, “o dia dos prodígios” foi considerado uma das novas revelações literárias das letras portuguesas. Um título merecido que vale a pena recordar, trinta anos depois. Boa leitura!
Florbela, a sublime

Uma obra completa que inclui poemas, produção ficcional em prosa e um curto diário.
Falo de Ti às Pedras das Estradas
Falo de ti às pedras das estradas,
E ao sol que é louro como o teu olhar,
Falo ao rio, que desdobra a faiscar,
Vestidos de princesas e de fadas;
Falo às gaivotas de asas desdobradas,
Lembrando lenços brancos a acenar,
E aos mastros que apunhalam o luar
Na solidão das noites consteladas;
Digo os anseios, os sonhos, os desejos
Donde a tua alma, tonta de vitória,
Levanta ao céu a torre dos meus beijos!
E os meus gritos de amor, cruzando o espaço,
Sobre os brocados fúlgidos da glória,
São astros que me tombam do regaço!
Descobri a poesia de Florbela Espanca ainda muito jovem. Creio que não tinha mais do que 15 anos e desde esse momento fiquei siderada pelas suas palavras. O que mais me marcou foi sua profunda tristeza, já que é possível vislumbrar pelas entrelinhas da sua escrita, sem necessitar de recorrer a qualquer tipo de biografia, a sua infelicidade latente. A sua insaciedade por algo que é tão díficil de alcançar, o amor absoluto. Redentor. Eterno perante a erosão do tempo. Na sua obra completa, que inclui alguns textos que escreveu em prosa, e que recentemente voltei a reler, voltei a sentir uma grande angústia e pesar perante o desfecho trágico das suas histórias. É quase como se vivesse num estado permanente de desdita. Contudo, estou convencida que Florbela Espanca jamais poderia ter escrito alguns dos melhores poemas da língua portuguesa, se não tivesse na sua curta existência vivido tão esfomeada, inquieta e tão dilacerada pela realidade, o que no limite lhe roubou uma certa paz de espírito na sua vida. Afinal, sempre é preciso sofrer verdadeiramente para dominar as emoções do sublime. Boa leitura!
Eurico, o prebístero

É um romance histórico escrito por Alexandre Herculano, que nos remete para uma era pré-Portugal.
Eurico amava Hermengarda, mas não era correspondido. Pensava ele. Por sofrer de amor abdicou da sua espada de soldado e entregou-se ao sacerdócio, sendo ordenado Presbítero de Carteia. Numa reviravolta do destino, o seu, o verdadeiro, o nosso herói mais uma vez é obrigado a combater para deter a invasão dos árabes e desta feita assume uma identidade secreta: o cavaleiro negro, o derradeiro pesadelo das tropas inimigas. Terá Eurico uma nova oportunidade para ganhar a afeição da sua amada? Vencerá as batalhas que se avizinham e que ensombram a Península Ibérica? Se quer mesmo saber, vai ter que ler! AHHH! Eu sei que não há maior desmancha-prazeres do eu, mas vale a pena recordar este romance histórico, escrito por Alexandre Herculano, que remete-nos para um tempo de códigos de honra, de valores morais e éticos que ecoam na personagem de Eurico. O único pormenor que continua a fazer-me confusão sobre este grande romance são os nomes. Porque será que os autores portugueses, na hora de elege-los, tendem a ter as escolhas mais estranhas. Eurico? Hermengarda? Bem, gostos não se discutem, criticam-se. E embora, não aprove muito estas onomásticas, gosto do enredo e das aventuras de capa e espada do nosso herói que não é bem luso, mas almeja sê-lo sem o saber. Outro detalhe delicioso da escrita de Herculano é a descrição que faz de tudo, sem esquecer o mais pequeno pormenor. Conseguimos visualizar mesmo à nossa frente o campo de batalha, as ruínas, as grutas onde se escondem, os seus trajes e as suas armas. Só para finalizar, deixo uma pista para o desfecho, o escritor era um romântico, no género literário, bem entendido e muito ao gosto dos clássicos, qual acham que vai ser o destino final do nosso herói? Boa leitura!
Podcast
Eventos
-
MMI- Reabertura de aquário dos bacalhaus
17-09-2016
O Museu Marítimo de Ílhavo reabre o Aquário dos Bacalhaus, depois de um período de obras de...
-
Cineteatro louletano- Programa Dezembro
 12-02-2016
12-02-2016
No dia 15, sexta-feira, às 21h00, há uma estreia que resulta de uma coprodução entre o Cineteatro...
-
Teatro Baltazar Dias-Programa Dezembro
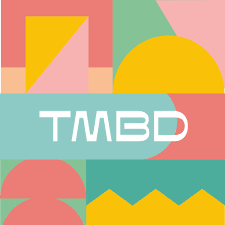 12-09-2015
12-09-2015
O último programa do ano que encerra como sempre com música... Feliz ano novo 2025...
-
CCVF e CIAJG- Concertos e Guidance
 06-06-2015
06-06-2015
A Oficina desvenda os primeiros dois concertos de 2025, a 18 de janeiro e 26 de fevereiro, no Centro...





