Yvette Vieira
Arrebita, arrebita invicta

É um projecto ousado, com soluções inovadoras que pretende renovar o espaço urbano da cidade e devolve-lo aos seus habitantes, através do empreendedorismo social que passa pela recuperação de prédios devolutos. A primeira fase desta ideia já esta em marcha na Rua da Reboleira, na Ribeira.
Vou começar pelo óbvio, como surgiu a ideia do arrebita Porto?
José Paixão: A ideia surgiu no contexto âmbito do concurso Faz, ideias de origem portuguesa, que foi promovido pela Fundação Gulbenkian e pela Fundação Talento e dirigia-se a comunidade portuguesa pela diáspora. A ideia era contrapor a fuga de cérebros e criar incentivos para os portugueses na diáspora investirem e participarem na construção do país. Eu já estava fora de Portugal há doze anos e decidi entrar neste concurso contra o abandono dos centros das cidades. Era um problema que me afetava particularmente como arquitecto e por sentir o contraste entre as cidades que conhecia no estrangeiro e os centros urbanos em Portugal. Formei uma equipa com uns amigos e apresentei esta ideia para o concurso, que viemos a vencer e estamos agora a implementar.
O projecto visa a Porto isso acontece porque és natural desta cidade?
JP: Sim, sou natural do Porto. Embora haja uma razão emocional, também há uma percepção do problema e um contacto com essa realidade. O Porto em Portugal é o caso mais grave do abandono do centro das cidades. Só nos últimos 20 anos, a cidade perdeu dois terços da sua população. Era, por isso, flagrante apresentarmos soluções alternativas e inovadoras para este problema que afecta toda a população. A identidade da cidade. A sua segurança. As populações mais frágeis que residem nestas zonas. As infraestruturas da cidade também são afectadas. É um problema que carece de soluções e respostas.
Porque escolhestes os alunos de Erasmus?
JP: Não são alunos de Erasmus, é como se fossem. São jovens, profissionais, recém-licenciados, ou numa fase de finalistas nos seus respectivos cursos que já tem conhecimentos adquiridos na matéria e vontade em aplicar esses conhecimentos num contexto real de trabalho e daí a oportunidade sob a nossa supervisão e dos parceiros de podermos dar as condições para por um lado desenvolver o seu projecto próprio e por outro terem um impacto real na sociedade, de sentirem o valor do seu esforço na resolução de um problema real.
Quantos elementos integram o arrebita porto?
JP: O arrebita porto tem um gabinete de coordenação, onde nós não o desenvolvemos, apenas o desenhámos. Há uma equipa internacional em fases de três meses que o vai desenvolvendo. As equipas têm cinco elementos que se vão revezando no tempo e são eles fazem o projecto, que trabalham. Nós, a organização somos a volta de vinte elementos que apoiámos e dá-mos as condições para que, por um lado, esta equipa possa desenvolver o projecto e que possa estar em contacto com a restante rede de parcerias, que possa acompanhar esses trabalhos. Nós temos uma posição de mediação e não tanto de protagonismo no desenvolvimento.
O experimentalista
Janita Salomé é músico, compositor, cantor e grande divulgador da música alentejana. Com uma carreira com mais de 30 anos, João Eduardo Vieira tornou-se um dos símbolos de uma musicalidade sempre em evolução e em constante mutação. Prova disso é o seu último álbum em parceria com o irmão, outro grande nome da música portuguesa, Vitorino, intitulado de Moda Impura.
Os portugueses ainda gostam de música?
Janita Salomé: Os portugueses gostavam ainda mais de música portuguesa se lha dessem a conhecer. Hoje em dia verifica-se naqueles programas de talentos que os candidatos cantam sempre em inglês e raramente o fazem em português e quando o fazem escolhem sempre o pop/rock que é o estilo musical mais divulgado. Por outro lado, noto uma grande receptividade pela minha música e não só, uma outra música portuguesa, que tem ouvintes numa faixa etária muito jovem e curiosa, com formação musical, que quer conhecer outras sonoridades e é algo que se sente.
O seu irmão, o Vitorino, defende que não se passa o suficiente música portuguesa nas rádios.
JS: De facto é verdade, passa-se uma certa música portuguesa nas rádios. O nosso legado musical é extremamente rico e diversificado e de facto não é divulgado em toda a sua magnitude e é isso que ele quer dizer. Há cantores e criadores como ele, como eu e outros nomes que não vale a pena citar que não se ouvem na rádio e é pena, porque muitas vezes nos concertos uns vão porque já conhecem, outros vão por curiosidade e depois ficam surpreendidos, como se não soubessem que havia este tipo de música em Portugal. Os universos acabam por ficar circunscritos, ou circunscrevem-nos naquilo que fica no ouvido e só quem é mais curioso, que tem uma determinada formação e que domina os meios de comunicação como a internet é que vai à procura de outros géneros, de outras linguagens musicais. Mas, tudo isso fica muito dependente do indivíduo e não dos estímulos que a rádio e a televisão podiam criar, que tinham essa obrigação e que não a cumprem.
Tem na calha algum novo trabalho?
JS: Sim, dentro de pouco vai sair um novo trabalho que gravei com o meu irmão Vitorino sobre o canto alentejano e vai ter uma cobertura mediática como não tivemos nos outros anos, dá-me ideia de algo de novo que esta para acontecer. Nós temos essa esperança, aí de nós se não a tivermos! Estaremos no coliseu de Lisboa no dia 6 de Outubro.
Este novo trabalho é uma recolha de música alentejana?
JS: Não é bem recolha, porque são modas alentejanas que cantámos desde miúdos e outras que compusemos sobre textos do António Lobo Antunes, que tem uma forte ligação com o Alentejo. O projecto chama-se moda impura, dígamos que os puristas do canto alentejano não vão gostar muito, já estamos a prevê-lo. Daí o título.
A juventude amanteigada


Os “bolo do caco” nasceram de uma vontade indómita própria da juventude de marcar a diferença. É um grupo de teatro que se distingue pelo equilíbrio entre o intelectual e popular. Pelo belo e o banal. Pelo não conformismo que teima em assolar a sociedade e que pretendem contrariar. Agora, eles têm um espaço fixo, onde você também pode aparecer, o número 116 da rua de Santa Maria, no Funchal.
Fala-me um pouco sobre o grupo de teatro bolo do caco.
Xavier Miguel: O grupo surgiu em 2011. Fizemos uma peça que é “o médico engenhoso” de Molière e que apresentámos um pouco por toda a ilha. Depois fizemos algumas animações, nomeadamente na semana da poesia.
Era necessário mais um grupo de teatro amador na Madeira? Existem já vários. Em que vocês se distinguem?
XM: É verdade, existem alguns. Não que haja imensos. Há grupos que fazem uma peça de teatro e acabam. Eu decidi criar um que seguisse os nossos ideias, que reflecte um teatro popular, mais divertido e dinâmico com conteúdo. De um lado intelectual e o oposto, mais popular. Gosto desse equilíbrio. Temos piadas intelectuais e “parvas”. Gosto dessa mistura, porque há grupos que apenas fazem comédias e outros um teatro mais sério, mas eu queria algo muito próprio, um ao nosso estilo.
Quantos membros integram o bolo do caco?
XM: Somos 10 ao todo, embora não tenhamos uma equipa fixa. Há esses oito a dez elementos que trabalham em todas as peças. Para esta em particular, “rabos-de-peixe, episódios da zona velha”, temos uma equipa de 20 pessoas.
Fala-me um pouco desta peça, o que tem estes textos de particular?
XM: A escolha do texto surgiu com o espaço. A zona velha. É uma área urbana que passou por uma expansão social e económica e em termos culturais ainda não tinha acontecido. Tivemos a “casa dos poetas” que teve duas exposições e esta sempre fechada. O “espaço das artes”, por outro lado, que tem sempre as mesmas coisas e os pintores queixam-se que não vendem os quadros expostos e fora isso, não existe mais nada. E por isso, pensei em aliar o conceito do palco fora do palco, que vai de encontro a ideia do festival on, mas neste caso com teatro. A ideia é criar não uma zona pontual, mas fixa. A casa é do grupo de teatro “bolo do caco” e dos “mad space invaders” e vamos utiliza-la para divulgar trabalhos nossos e de acolhimento. Faltava um espaço cultural nesta zona. Em paralelo, queríamos fazer uma peça sobre esta área antiga da cidade do Funchal, a zona velha. Estive a pesquisar e não havia nada escrito, falei com escritores e quando refundei a casa encontrei o livro de João Carlos Abreu, “Joana, rabo de peixe”, que nem sequer me tinha ocorrido. E fez-se um click. É um livro que retrata personagens e episódios que aconteceram na vida real, por mais espantoso que possa parecer, era verdade. O dia-a-dia das crianças, das mulheres, as prostitutas, dos pescadores e das suas confusões. Dos meninos que mergulhavam na praia para apanhar moedas dos estrangeiros. Peguei nesse texto, porque achei que era bonito e poético. Como no grupo de teatro temos sempre um conteúdo intelectual adaptei-o com um estilo “amanteigado com alho”. É uma peça que oscila muito entre os miúdos que jogam à bola e o casal que esta a pancadaria em plena rua. A bêbeda que grita com a outra mulher embriagada, porque esta roubou-lhe o namorado. É uma peça de equilíbrios.
Festival música viva 2012

Um evento organizado pelo Miso Music Portugal que visa mostrar o talento nacional.
O 18º Festival Música Viva irá ter lugar, entre os dias 18 a 23 de Setembro no Centro Cultural de Belém (CCB) e 1 a 10 de Outubro no Instituto Goethe, em Lisboa. O evento será dedicado, no essencial, à nova criação musical portuguesa com enfoque nas relações da música com a tecnologia. O destaque deste ano é para Constança Capdeville, (no 75.º aniversário do seu nascimento e passados 20 anos sobre o seu falecimento) e a Álvaro Salazar num concerto de abertura que lhe é totalmente dedicado.
Contando com a excelência e cumplicidade de um leque diversificado de artistas e participantes, sem a generosidade dos quais, este ano, não teria sido possível a realização deste evento; a programação do festival incluirá ainda debates, uma grande instalação sonora, o 2.º Fórum Internacional para Jovens Compositores do Sond’Ar-te Electric Ensemble e nove espectáculos, para apresentar cerca de 60 obras, 40 delas de compositores portugueses, das quais 15 estreias absolutas.
Uma corrente imparável

Há 13 anos atrás surgiu um evento literário que marcou a agenda cultura do nosso país, as correntes d’escritas. Um encontro entre os escritores e os seus leitores que visa incentivar a conversa sobre livros, questionar conteúdos e reflectir sobre a literatura. A iniciativa do pelouro da cultura da Câmara Municipal da Póvoa do Varzim tem vindo, ao longo do tempo, a crescer não só no número de participantes, como de pessoas, sobretudo jovens que querem abordar as palavras, lê-las e critica-las, como afirma o vereador e membro da organização, Luís Diamantino.
Passados 13 anos quais são as metas que ainda restam por cumprir as correntes de escrita?
Luís Diamantino: Um evento como o Correntes D’Escritas tem como catalisador: a ambição. Pretende chegar sempre mais longe, nunca perdendo de vista os dois grandes objectivos: promover o livro e a leitura, sobretudo junto dos mais jovens.
Qual é o feedback que percepcionam do público ao fim destes anos? Há uma grande adesão dos jovens?
LD:O público tem participado de tal forma, que é o principal animador e incentivador deste encontro. Para ouvir falar sobre literatura, há filas de espera para entrar no auditório. Temos cada vez mais jovens a participar nas mesas e presentes no público, mas nunca esquecemos de levar os escritores a todas as escolas do concelho, onde são muito bem recebidos e estudados. Recebemos, também, escolas de outros concelhos.
Lê-se muito pouco no nosso país. Acha que era salutar haver mais eventos como este para promover a leitura? Nota isso no seu Concelho?
LD: Na Póvoa de Varzim, tem havido um trabalho muito forte na promoção da leitura, temos uma grande produção editorial, uma grande feira do livro, levamos a biblioteca às escolas, à pediatria do hospital, aos lares de idosos, às ruas, aos jardins… Criámos polos da Biblioteca Municipal nas freguesias do concelho e fomos dos primeiros municípios a criar as bibliotecas de praia. Em Portugal, edita-se cada vez mais, por consequência entendo que se lê bem mais. Após o nascimento do Correntes, verificámos o aparecimento de outros encontros literários, o que veio enriquecer o panorama editorial nacional. Na Póvoa, existem muitos leitores e cada vez mais escritores, sobretudo jovens.
Desde a primeira edição, pode destacar alguns dos momentos mais marcantes deste evento literário?
LD: Foram tantos os momentos com temas, pessoas, livros e leitores!
A estrela cantante

Danae conta as histórias de ninguém. As suas composições brincam com vários ritmos musicais que a influenciaram desde a sua tenra infância até a idade adulta. São as memórias de Cuba, de Cabo Verde e de Portugal que transpõem para as suas canções inundadas de sonoridades e tonalidades inusitadas. É a nova música africana, o novo crioulo, numa voz doce, plena de significado, que nos remete para uma viagem sem fim.
Qual é a diferença entre o teu primeiro álbum, “condição de louco” e o “cafuca”?
Danae Estrela: O “cafuca”, o segundo álbum, foi mais consciente mesmo na escolha dos instrumentos. Estive mais presente na direcção musical. O meu primeiro trabalho, “condição de louco”, a base era a guitarra e voz. Não tinha consciência do que estava a fazer, não programei seguir determinado caminho. Aconteceu em Coimbra. Os meninos da rádio universitária fizeram-me essa brincadeira, depois conheci o Pedro Renato que ouviu a maquete que eles gravaram e logo convidou-me para trabalhar. Decidi então experimentar, a primeira vez fiz tudo, mesmo as composições, as músicas e os meus pais nem se deram conta, fazia-o com amigos, no quarto.
Esta fusão de estilos musicais que se ouve nas tuas composições foi sempre algo que trouxestes contigo desde o primeiro álbum?
DE: Sim, as pessoas sempre estranharam muito que uma menina que é cubana e cabo-verdiana canta-se em português, mas sabes, a música é língua franca, não tem barreiras, tens é de soltar a imaginação, seja em português, em inglês ou em crioulo. Eu também sou crioula, nasci em Cuba, cresci em Cabo Verde e vim para Portugal. Vivo cá. É tanta mistura. Daí os novos crioulos.
Quem são então esses novos crioulos?
DE: Nós somos quatro pessoas, aparecemos só no “Cafuca”, daí falo de tomada de consciência, de trazer para fora já um conceito. O primeiro álbum partiu de uma forma intuitiva, neste segundo trabalho discográfico, foi do estilo, o que esta a acontecer aqui? É um conceito novo, porque não é só fazer música de fusão, as composições acontecem.
Já imaginavas o “cafuca” com todos estes novos instrumentos?
DE: Este novo álbum não. As tablas indianas é um instrumento raro, de música clássica indiana e a forma como o Raimund Engelhardt toca e como me acompanha é fantástico. Conhecemo-nos no Tejo bar. A história é engraçada, eu era muita tímida e o Sérgio que trabalha nesse bar quase não vê, é practicamente cego, para picar-me durante um concerto decidiu apagar mesmo as luzes, nesse mesmo momento os meninos chegaram e o Raimund e o Johannes Krieger, o trompetista, decidiram “responder” à minha música sem nos vermos. Só um ano depois é que falei com o Engelhardt e que começámos a trabalhar. Daí trazer para a mesa o conceito dos novos crioulos. Lisboa é uma cidade muito cosmopolita, as pessoas encontram-se aí, são tantas as cores e as paletas são imensas. Somos nós, os crioulos.
O artista da marioneta

Carlos Aveiro possui um longo percurso profissional no mundo das artes, pela animação hoteleira, como formador e como marionetista. Uma das suas muitas facetas, que o levaram a criar um espectáculo de raiz intitulado, fios, que mostra um universo de artistas de variedades em tamanho pequeno para toda a família.
Como é que começa esta a aventura com as marionetas?
Carlos Aveiro: Quando esteva a trabalhar na empresa costa crocieri, na altura era coordenador da animação do navio e claro, o mundo artístico junta-se todo. Um dos que trabalhava a bordo era um marionetista inglês e acabámos por trocar de impressões nos jantares. A minha curiosidade foi tanta que conversámos e convidou-me para assistir a um dos seus ensaios. Foi e de um momento para outro, ele passou-me uma marioneta para as mãos e eu comecei mexe-lo, a manipula-lo e foi aí que tudo começou. Voltei para Portugal e fiz pesquisas na área de marionetas em termos gráficos e de construção.
Então constróis as tuas próprias marionetas?
CA: Muito pouco, ma trabalho muito a ideia com várias pessoas que trabalham exclusivamente para mim. Inclusivamente travei conhecimento com vários marionetistas, construtores americanos, alemães e a minha companheira que é holandesa. Trocámos de impressões, e acabámos por trabalhar essa ideia e ela a vai executando.
Quanto tempo leva para construir um boneco de raiz?
CA: A trabalhar arduamente pode demorar uma semana, outros podem levar cerca de dois meses ou mais, porque à medida que os vamos construindo descobrimos novas potencialidades. É um trabalho moroso, não só pela escolha dos materiais, o ideal é madeira de pau francês por ser mais leve, mais pela componente intrínseca dos mecanismos que é necessário inserir. Alguns pormenores como os pés, as mãos e a cabeça são feitas de pasta de madeira, porque é fácil de moldar, depois vai ao forno que ganha tal consistência que não quebra.
Mas, o que o atrai é o imaginário que envolve? São os fios? É o manipular?
CA: Sempre estive ligado as artes. Foi responsável pela animação em hotéis, em casinos e sempre tive um grande fascínio pela arte de representar e vi na marioneta uma forma de expressão diferente que até 1992 eu não estava habituado. Com esse fascínio, consigo através do meu trabalho cativar não só as crianças, os adolescentes, mas também os adultos. Todo o público, quer seja português, ou francês, ou inglês. O espectáculo esta construído de forma que seja acessível a qualquer ser humano, independentemente da sua origem.
O “fios” porquê agora?
CA: Eu estreie um espectáculo em 1995 que era “a magia das marionetas”. Desde então, tenho vindo a construir este que se chama fios. É novo. É uma estreia nacional. Em Portugal temos marionetistas com muito valor, mas não apresentam o seu trabalho como eu o faço. É como se fosse um espectáculo de variedades. Não conta uma história propriamente dita, assim consigo cativar o público mais jovem e o mais adulto e interajo permanentemente com eles. Vamos ter, um esqueleto com luz negra à mistura que se vai decompondo. Aliás, este personagem tem sido a delícia das crianças, no final, se perguntar qual foi a marioneta que mais gostaram, respondem sempre que foi o esqueleto. Acrescentei um stripper, uma galinha e avestruz.
Aos meus 40 anos


A comuna teatro de pesquisa está a comemorar os seus quase 40 anos de existência, o que os torna uma referência de peso no panorama do teatro nacional. Um trabalho em prol da cultura que tem dado a conhecer a dramaturgia portuguesa e internacional e contribuído decisivamente na formação de novos actores. Carlos Paulo, um dos fundadores e um dos motores desta companhia, fala sobre este percurso colectivo, a sua carreira e a nova peça actualmente em cena “ a controvérsia de Valladolid”.
O que tem sido estes quase 40 anos da Comuna?
Carlos Paulo: Foi um sonho na altura, porque nos criámos a Comuna para termos nas nossas mãos os nossos destino, fazermos o teatro que queríamos e gostávamos. Vivíamos no fascismo e tínhamos a censura. Quisemos fazer um coletivo de actores e a visão era criar novos públicos, criar dramaturgia portuguesa, internacional e em espaços novos. Ser também um grupo de itinerância. Conseguimos fazer tudo isso. Temos uma casa em Lisboa, com quatro salas, viajámos por todo o território nacional e já estivemos em 18 países do mundo inteiro. Outra componente do nosso trabalho é a formação de novos actores. Vemos esses artistas na televisão, posso falar do José Pedro Gomes, da Rita Salema e do Armindo Gonçalves que começaram todos na Comuna, foi a sua casa-mãe e para nós tudo isso é motivo de orgulho. É um espaço de crescimento, é como a casa dos pais, quando estamos prontos fazemó-nos à vida. E é assim que nos temos mantido, esta peça tem gente muito nova e outros mais antigos e a Comuna é isso mesmo, nunca é como há quarenta anos. Estamos disponíveis e atentos às mudanças para podermos responder. O teatro é isso.
Como actor e formador o que nota de diferente nestas novas gerações de novos artistas em relação a sua?
CP: Hoje o que é diferente, é que tudo é aparentemente mais fácil, mas apenas na aparência. A televisão criou um mercado que permite um mais fácil acesso aos actores, mas é falso, é descartável, utilizam-nos duas ou três vezes, depois são caras conhecidas, abandonam-nos, deixam-nos. Existe uma lacuna de formação básica, depois são miúdos com 17,18 anos que ficam encandeados, aparecem nas revistas e de repente aos vinte e poucos anos põem-nos de lado e eles não percebem nada. No nosso tempo, nos subíamos em escadinha, peça à peça, espectáculo à espectáculo, conquistando o nosso espaço e o nosso sítio. É aí que tenho pena deles, porque depois não há estruturas para os acompanhar nesse sentido, para criar novas companhias, novos grupos para aproveitar as experiências que eles já têm. Hoje, essencialmente no teatro, o que tem acontecido é vermos gente formada no conservatório, ou com formação básica, para não sofrerem este lado que chamo de descartável, que é muito fácil. Ganhasse muito menos do que no meu tempo. Eu deixei de fazer televisão há dez anos, porque acho que a qualidade baixou muito e que a exploração é muito grande. Prefiro o teatro, porque não engano ninguém, faço as peças de que gosto e de que não tenho vergonha. Mas, eu entendo que um jovem se sinta deslumbrado por este mundo, é uma forma de aparecer. Depois não há uma continuidade desse trabalho, bem pelo contrário. Depois vemos nas revistas, os casos terríveis de alguns.
Neste longo percurso o público português também mudou?
CP: Mudou. Antes havia um público muito fidelizado ao teatro, que foi desaparecendo. A televisão começou a ter muita força, os vídeos, o próprio cinema tem muita gente. Agora, há muito público novo no teatro, esta cheio de gente jovem, porque nos temos uma vantagem em relação a estes meios de que falei, é que não descartável na internet. Eles ou vêm ao espectáculo, ou não vêm. Pronto, o teatro tem isso, como a malta nova tem muita vontade de conhecer e aparecer, nos ao fim destes quarenta anos, a Comuna tem muito público jovem. Depois, vivemos num mundo com tanta tecnologia que eles ficam encantados com este contacto entre nós e eles. O estarmos juntos fechados numa sala, uma, ou duas horas todos juntos e isso é muito bonito. Acredito no futuro do teatro, porque tem a ver com o encontro. Nós estamos a viver uma época é que precisámos de nos descobrir, olhos nos olhos, conversar e falar.
Esta nova peça que está em cena, o que tem de particular, que faça esta interligação com a comemoração dos 40 anos da Comuna?
CP: A peça foi escolhida, porque é um grande texto. Nós sempre escolhemos tendo em consideração o que queremos dizer as pessoas neste momento? Nestes tempos da globalização e nestes últimos anos com o que tem acontecido no mundo, com uma guerra de religiões, de raças e esta peça “A controvérsia de Valladolid” é sobre um facto histórico, quando os espanhóis conquistaram as Américas e se deparam com uma raça nova que eram os índios. O Vaticano promoveu um encontro em Espanha, trazendo um casal de indígenas para demonstrar que eram pessoas como as outras. Portugal é um país de misturas, um país mulato, tem africanos, indianos, todo o tipo de gente e olhámos para o outro como? Onde começa o racismo? É ignóbil? É de pele? A peça é uma reflexão sobre isso, sobre o outro e a forma como encarámos a sua cultura. É muito forte e muito bonita e que era um tema muito bom para pensar.
A alquimista d'alma

A Doutora Ana Moreira é uma enamorada pelo saber, pelos meandros do conhecimento científico e pelo ser humano. Uma paixão que transporta para a sua profissão e para os seus pacientes, através da medicina integrada, com a qual pretende curar não só o corpo, como a mente.
Como é que uma pessoa ligada as ciências exactas, faz uma abordagem à medicina biológica e a um conceito que é a sintergética?
Ana Moreira: O que acho é que problema do povo, dos médicos e toda a classe dita científica é que ainda não olhou para o reverso da medalha. O que eu estudei dentro da sintergética, dentro da medicina integral, funcional (são todos esses nomes) é que é uma medicina holística. No fundo é um médico licenciado em medicina que se especializou noutras áreas, podemos chama-la de medicina integrada, porque envolve vários conhecimentos e está mais do que coberta por artigos científicos. Primeiro, porque não são artigos que saem tanto ao público, não são patrocinados pelos laboratórios farmacêuticos e esse é o busílis da questão. Depois são respaldados pela física quântica, que fundamenta muito a medicina bioenergética. A maioria do mundo ainda não sabe o que é esta ciência, que tem muitas teorias, nomeadamente a do caos e são explicações científicas para uma coisa com que trabalhamos e as pessoas não percebem muito bem que é a energia do próprio. Dígamos que há um campo eletromagnético que nos rodeia são uma nuvem de eletrões que são medidos por uma cámara de Kirlian. O nome surge com uns cientistas russos, físicos, que criaram uma espécie de grande câmara fotográfica que retém a imagem desta nuvem de electrões a rodear-nos.
Este tipo de medicina pretende olhar o paciente como um todo, porque isso faz parte da cura?
AM: Isso é o sonho, acho que de qualquer médico nesta área, que é o trabalho holístico. Nós tentámos ver não só o sintoma, a queixa principal da pessoa, mas percebe-lo. Imagine que pode ser uma dor no ombro numa mulher com cinquenta anos que acabou de perder o filho num acidente e não se pode dissociar essa dor que ela sente, a perda, da dor física no ombro. Temos sempre que ver as pessoas como elas são. Onde é que elas vivem? Com quem? Onde residem? Em que família estão inseridas? Para saber como é que elas reagem perante as vicissitudes da vida. Um dos aspectos muito interessantes desta abordagem é que o que vivemos fora acabámos por viver por dentro. Uma pessoa excessivamente perfeccionista, rígida com horários, com protocolos e com planeamentos de vida é uma pessoa com rigidez muscular. O organismo energeticamente gera este tipo de emoções. Quando vemos uma pessoa com uma queixa e vemos que ela está inserida numa família, num grupo de trabalho, numa sociedade aí vemos essa pessoa como um todo e claro, o seu passado, aquilo que já viveu e quais são as suas perspectivas para o futuro. Infelizmente, hoje em dia, a nossa sociedade não vive o presente. Esta presa num passado e sente raiva porque não o pode modificar. Vivo enraivecida, porque não o posso mudar e esqueço-me de viver o presente, ou vivem no futuro, que é dia de amanhã. Como esse dia ainda não chegou, estou ansiosa, porque não sei o que esperar e mais uma vez me esqueço de viver o presente. Na realidade só existe um tempo que é o hoje. Se estiver concentrado no agora, o tempo é infinito, não tem medição. Repare, às vezes um dia custa muito a passar, outras estamos a conversar cinco horas com alguém e dizemos já passou? Ou então dá-mos um abraço de dez segundos a uma pessoa que amámos verdadeiramente e parecem cinco horas, o tempo é relativo. Na verdade só existe o agora.
A medicina integrada que exerce, como é vista pelos seus colegas?
AM: Não faço ideia. No início quando comecei a estudar isto foi do género, descobri a pólvora, vou telefonar, vou dizer, vou tentar trazer gente para o meu lado. Não resulta, cada um tem de fazer o seu caminho. Também se trata de uma busca, de um percurso pessoal. Quem esta nesta área fê-lo por algum motivo, ou para si próprio, ou por alguém da sua família que o encaminhou para esta área não tão publicitada chamemos-lhe assim. Agora, depois dessa primeira abordagem que não resultou, sabia que aquele era o caminho, mas ainda estava muito no início, noto que os amigos médicos ouvem-me, aceitam-me, enviam-me familiares, tratam-se comigo e até com colegas desta área. Os outros colegas, depende, acho que vai havendo uma classe que respeita o nosso trabalho, mas principalmente há um desconhecimento total, eu diria 50% das pessoas que são tratados nos hospitais, estão a ser cuidados por profissionais com a mesma filosofia do que eu, só que não tem coragem de o dizer aos seus próprios colegas. Por outro lado, muitos doentes que estão a ser bem tratados, bem controlados na sua doença, tem até remissões espontâneas, nomeadamente de cancros, são pessoas que se trataram “cá fora ao mesmo tempo”, só que não tem coragem de o admitir perante o médico do hospital porque tem medo de serem postos fora, não lhe serem dados os tratamentos adequados. Há também uma falta de verdade, porque as pessoas tem receio de o dizer, o que faz com que o colega não se aperceba o porque do seu paciente ter melhorado tanto e poder questionar-se se vale a pena estudar esta questão.
Mas, existe uma grande resistência por parte dos médicos nesta matéria, tanto que os tratamentos não são comparticipados, porque os médicos não prescrevem este tipo de tratamentos alternativos.
AM: Há duas questões, que gostaria de esclarecer, a primeira é que isto não é medicina alternativa. Quando falámos em tratamentos alternativos, estamos a falar de um terapeuta que não sendo licenciado em medicina, exerce uma forma de medicina, vê pessoas que estejam doentes. São os chamados terapeutas não convencionais, naturopatas, o que lhe quiser chamar, isso já é reconhecido na lei. Outra coisa é o que eu exerço, que sou médica, licenciada por uma faculdade portuguesa, com algum currículo até europeu, mas que exerço uma abordagem medica integrada. Eu integro todos os conhecimentos que tive na faculdade, de fisiologia, de biopatologia, de imunologia com alguns conhecimentos da medicina tradicional chinesa, da Ayurvedica, da homeopatia, da homotoxicologia e ao integrarmos isto tudo vemos as pessoas de uma forma holística, daí ser mais bonito dizer integrada. Claro que os medicamentos homeopáticos não são comparticipados neste país, mas em outros são, talvez porque os governos tenham chegado à conclusão que as pessoas que se tratam desta forma são mais saudáveis, estão menos tempo internadas e gastam menos medição comparticipada digamos assim. Há o célebre caso de uma companhia de seguros alemã que esta a baixar preços de seguros para pessoas que dizem que se tratam com homeopatia, que fazem meditação e yoga. Pessoas mais preocupadas com a sua saúde, não fumam, tem cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas, com a alimentação, com o corpo, logo esperamos que estejam menos doentes.
O menestrel das emoções

A voz de Pedro Barroso é transversal há várias gerações de portugueses, porque fala de amor, ódio, paixão, dor e revolta. Ele canta tudo o que lhe vai na alma e a sua mensagem é intemporal. A sua música é como um retalho histórico de um povo, o português e todas essas características que o tornam universal.
É um autor e compositor com uma vertente de certa forma revolucionária. Como é que as novas gerações o veem?
Pedro Barroso: Eu sou transversal felizmente. Senão, não enchia as salas e tinha 43 anos de carreira, portanto não era possível ter este tempo de duração digamos assim, se aquilo que estivesse a fazer já não fosse sentido pelas pessoas. Discordo que faça canções revolucionárias, só no sentido em que apelo para uma sociedade com outra ternura, com outros valores, não os que regem, dirigem e mandam na sociedade actual. Mas, isso é existencial, não é só de Portugal, é um problema de valores em escala mundial. Exaltámos tudo o que é medíocre e andámos a esquecer o que é profundamente belo. Aqueles que são competentes e muito bons são negligenciados e prejudicados por aquilo que podemos chamar de “mainstream”, que é no fundo as ondas galopantes de sucessos de “lady gaga” que musicalmente são más, que resultam de uma construção de marketing, não vivem de mais nada do que isso e que raramente correspondem esteticamente, do ponto de vista da linguagem musical e poética qualquer coisa de profundo e meritório. Temos que perceber que se apela a valores da mediocridade que raramente são transformadores da sociedade, no sentido de uma outra atitude, com outra inteligência, mais culta, é nesse sentido eu eventualmente tento intervir, através da chamada música revolucionária. Quando foi preciso estive na primeira linha a fazer canções que desembocaram na revolução de Abril de 1974, tenho orgulho de pertencer a uma geração que teve muita coragem de conquistar a democracia para Portugal. Neste momento considero que as grandes conquistas são as que eu digo que tem uma outra sensibilidade no viver de todos os dias.
Acha que é por esse motivo que se ouve muito pouca música portuguesa nos meios de comunicação social?
PB: É uma constatação. É uma verdade. Realmente a televisão passa séries, passa filmes, mas não tem um único programa sobre música portuguesa feita com músicos a sério e ao vivo. É uma televisão feita de pacotes encomendados, enlatados e raramente convidam artistas portugueses para fazerem uma noite ao vivo de música e com canções. O festival da canção que era uma festa com grandes músicas de grande qualidade no seu devido tempo, neste momento perdeu isso e tem alguns felizes conhecidos que vão fazendo algumas canções das quais as pessoas raramente se revêm e no dia seguinte esquecem, já passaram o tempo dos grandes temas do Ary dos Santos, do Nuno Nazaré Fernandes, do José Niza e do Fernando Tordo, são canções que deixaram uma marca e memória. Havia coisas até inclusivamente da TV globo, há 40 anos, antes do 25 de Abril, em que os artistas passavam e hoje em dia não passam, somos raramente chamados para fazer programas. Em vez disso, fazem os “ídolos” e as “operações triunfos” que enchem as cabeças daqueles jovens com ideias de riquezas, de sucesso e após um ano ninguém sabe onde eles param, portanto são mais umas vítimas deste fogo-fátuo em que tornou a cultura portuguesa. Precisámos de defender os nossos valores. Por isso, não admira que matámos Camões à fome e que o Carlos Paredes, esse génio da guitarra portuguesa, teve de ser arquivista de radiologia do Hospital de São José. É um país que não respeita os grandes valores, no ensino, na ciência e na arte. Esses tiveram que ser afinal escravos e outros foram príncipes sem terem nenhum valor. Os que realmente contam e marcam a cultura portuguesa raramente foram compreendidos e aceites no seu tempo.
Voltando um pouco a sua discografia, canta poetas portugueses e escreve poemas para as suas canções, ainda somos um país de poetas?
PB: Somos seguramente. É uma das coisas que nos sobra, é a capacidade de fazer poesia sobre a nossa própria desgraça. Temos muita sensibilidade, isso é verdade. Temos um país com poetas maravilhosos. Eu não musiquei muitos, muitos poetas, fiz um de Cesário Verde, de Sofia Melo e Breyner e José Saramago quando ainda não se falava dele, erámos amigos e vizinhos e descobri uma obra poética que ainda esta por apreciar, já que se tornou essencialmente escritor noutra semântica, em outra linguagem. Agarrei para este último CD alguns poetas anónimos que ninguém conhecia e peguei nos poemas que foram trabalhos por mim, à minha maneira, em co-autoria. O resto é sempre tudo meu, mas suponho que a minha obra abrange os temas principais, a mulher, a sensualidade, a sensibilidade, o tal ponto da utopia e a história de Portugal.
Gosta de cantar as mulheres.
PB: Sim e tenho tido um feedback muito bom. As mulheres dizem-me que sou um cantor que tenho tido mais sensibilidade para abordar o lado feminino. Vendo-o como elas o sentem, como pensam que normalmente, que não é muito abordado na poesia. Basta ir aos comentários do “youtube” e ver os que lá estão sobre os meus temas, elas agradecem com muita frequência.
Podcast
Eventos
-
MMI- Reabertura de aquário dos bacalhaus
17-09-2016
O Museu Marítimo de Ílhavo reabre o Aquário dos Bacalhaus, depois de um período de obras de...
-
Cineteatro louletano- Programa Dezembro
 12-02-2016
12-02-2016
No dia 15, sexta-feira, às 21h00, há uma estreia que resulta de uma coprodução entre o Cineteatro...
-
Teatro Baltazar Dias-Programa Dezembro
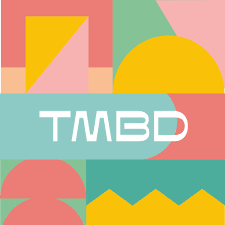 12-09-2015
12-09-2015
O último programa do ano que encerra como sempre com música... Feliz ano novo 2025...
-
CCVF e CIAJG- Concertos e Guidance
 06-06-2015
06-06-2015
A Oficina desvenda os primeiros dois concertos de 2025, a 18 de janeiro e 26 de fevereiro, no Centro...






